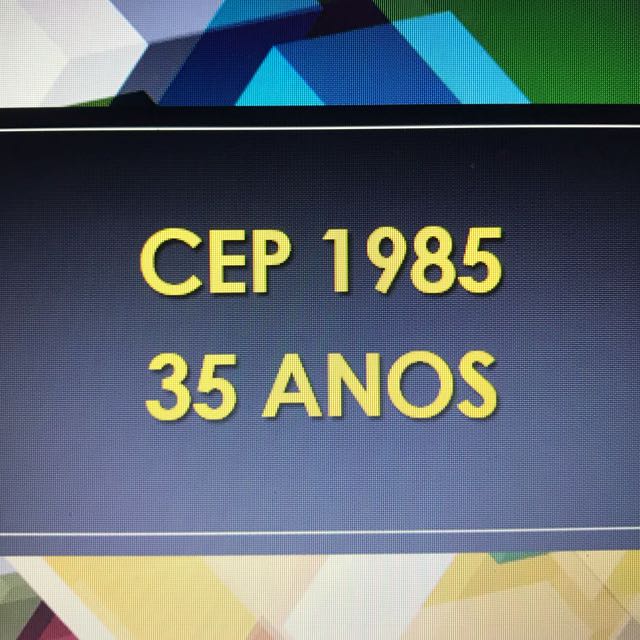ENTREVISTA - ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA, ECONOMISTA
sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Revista Isto É Dinheiro / Entrevistas
Beatriz Pacheco
"Com a quebra da confiança, o custo do Auxílio Brasil é maior que o benefício" Para Giannetti, ao extrapolar o teto de gastos, o programa social do governo afasta investidores e provoca um ônus econômico que pode comprometer a recuperação do País no pós-Covid.
O economista Roberto Giannetti da Fonseca circula por eventos e reuniões com lideranças políticas e empresariais como figura costumeira. A experiência acumulada na proposição de uma agenda econômica nacional o credencia como uma voz de peso no mercado. Além da atuação no setor privado, foi secretário-executivo da Câmara do Comércio Exterior (Camex) no governo de Fernando Henrique Cardoso e diretor de relações internacionais e comércio exterior na (Fiesp). Em entrevista exclusiva à DINHEIRO, Giannetti se ressente dos anos que o transformaram em testemunha do fracasso da economia brasileira como potência internacional. Como saída, defende uma agenda reformista diferente da que vê hoje no governo de Jair Bolsonaro. “O cerne das reformas era reduzir privilégios, reorganizar a estrutura administrativa e enxugar o Estado, mas nada disso está sendo feito”, disse. “Precisamos de um novo governo com capacidade para realizar o que ficou para trás.” Por anos ligado ao PSDB, e integrante da equipe que formulou o plano de governo da candidatura de Geraldo Alckmin à presidência em 2018, ele acredita que apenas a união partidária ao centro levará `a escolha de um candidato único para a terceira via.
DINHEIRO – O que a ameaça ao teto de gastos representa para a economia brasileira?
ROBERTO GIANNETTI DA FONSECA – Furar o teto é desmoralizar o equilíbrio fiscal do qual o País depende para atrair investidores. Estamos combatendo a irresponsabilidade fiscal desde 2001, e a figura do teto de gastos formulada no governo de Michel Temer era uma garantia de respeito a esse princípio. Há alternativas para que isso não fosse feito, como a diminuição de despesas e condução de uma reforma administrativa que reduza os desperdícios com o dinheiro público.
O senhor é defensor das reformas. Que pontos faltam ser endereçados pelo governo? Precisamos de uma reforma política imediata para acabar com a reeleição e reduzir o número de partidos.
Por quê? A estrutura que se consolidou no Brasil pulveriza a classe política e dificulta a governança. O nosso sistema legislativo e regulatório também é ultrapassado. Estamos quase no segundo quarto do século 21 e não conseguimos criar um Estado menor e mais eficiente. A sociedade não tem o retorno do que investe por meio dos impostos. Conquistaríamos isso com boas reformas administrativa e tributária.
Como avalia as reformas propostas? A essa altura, a reforma tributária já se trata de um remendo, longe dos objetivos que se buscavam para simplificação e desoneração. Na verdade, segue no sentido contrário. Ela traz medidas questionáveis do ponto de vista constitucional e que podem criar novos litígios. Além disso, tem no seu bojo uma política conflitiva ao manter a disputa do governo federal com estados e municípios pelo ICMS (arrecadação estadual) e pelo ISS (arrecadação municipal).
E a administrativa? Seria melhor não aprovar a reforma que foi apresentada, que deve piorar o cenário atual. O cerne das reformas era reduzir privilégios, reorganizar a estrutura administrativa e enxugar o Estado. Mas nada disso está sendo feito. Precisamos de um novo governo com capacidade para realizar o que ficou para trás.
Que perfil agradaria o mercado para as eleições presidenciais em 2022? Precisamos de um governo com perfil conciliador e reformista para transmitir confiança ao mercado. O desemprego, a inflação e a alta dos juros são as consequências econômicas da perda de credibilidade e de confiança do atual governo. Precisamos de um governante que combine os papéis de bom empresário e estadista.
Que nomes do cenário político atual atendem a esse perfil? Antes do nome de um candidato, precisamos de um programa. Pelo menos seis partidos de peso do centro precisam chegar aos pontos de convergência para desenvolver e aderir a um programa, para que então se decida quem vai implementá-lo. Mais do que isso, é necessário montar uma equipe qualificada para apoiar o andamento dessa agenda. Esse projeto ainda precisa ser amplamente discutido com a sociedade. Então, é preciso avançar ou não haverá mais tempo.
Os partidos de centro ainda titubeiam em abrir mão de candidaturas próprias. Conseguiriam se unir em torno do programa único? Se fracionarmos o centro político, os dois extremos irão para o segundo turno. Hoje, temos como certo apenas que, no curto prazo, a situação econômica no País só tende a piorar. Por outro lado, temos bons institutos no Brasil com capacidade para estruturar um programa de governo com facilidade. Não é necessária uma agenda detalhada e sim contundente e enfática sobre os interesses comuns.
Como o senhor avalia a proposta do programa Auxílio Brasil? Com a quebra da confiança, o custo do Auxílio Brasil é maior que o benefício. O programa aumenta o ônus do governo, que já tem uma dívida pública que ultrapassa 80% do PIB. O mercado vê um desgoverno quando o presidente faz um anúncio que não foi previamente conversado com o Ministério da Economia. Precisamos do auxílio para as quase 15 milhões de famílias brasileiras em extrema pobreza [conforme dado do Cadastro Único do governo federal], mas sem responsabilidade fiscal, estamos gerando inflação. Um tiro no pé. Além de furar o teto de gastos, a expectativa de permanência dessa política é um erro.
Há um esvaziamento do papel do ministro Paulo Guedes no governo, então? O ministro Paulo Guedes assumiu o posto com um discurso liberal e objetivos grandiosos, como acabar com o déficit primário em até dois anos e reduzir a dívida pública. Não fez nada do que foi prometido. Ele caiu nesse vazio pela própria incompetência em conduzir a agenda econômica e pelas interferências do presidente. Bolsonaro só apoia Guedesem política econômica e eleitoreira. O foco do governo é a reeleição em 2022, e a política econômica responsável ficou de lado. Tanto que os melhores servidores do Ministério da Economia já abandonaram o barco. O mercado não acredita mais no ministro Paulo Guedes, que passou a ser até motivo de piada.
E qual seria o caminho para recuperação econômica no País? Pelo ciclo virtuoso da economia, começando pela atração de investimentos para gerar mais empregos. A elevação da renda puxa o consumo, que aumenta a arrecadação. Para começar a fazer essa roda girar, é preciso ganhar a confiança do investidor com regras seguras e estáveis. A insegurança provocou a saída do capital e emperrou a expansão dos negócios no País. Além disso, não temos mais investimentos em ciência, o que leva à fuga de cérebros. No fim, não há estímulo no ambiente econômico. Estamos desorientados e atravessando um mar revolto com um governo que gera conflitos todos os dias.
Existe perspectiva para o Brasil recuperar o seu papel no cenário econômico internacional? Com uma taxa de poupança tão baixa, não há investimentos suficientes para o Brasil crescer no ritmo que precisaria para recuperar o atraso. Podemos até ver um “voo de galinha” na economia, mas o elemento fundamental para sustentar o crescimento econômico é aumentar as taxas de poupança e de investimento.
Que caminhos podem levar à sustentação desse crescimento? O Brasil é um país arcaico para o comércio exterior. Precisamos fazer a abertura econômica para que a fatia de importações e exportações salte dos atuais 18% para 30% do PIB brasileiro em até dez anos.
E o que é decisivo para essa agenda andar? É crucial que seja precedida por uma arquitetura de políticas públicas para aumentar a competitividade das empresas no País. A agenda do comércio exterior passa por mais investimentos em educação e na indústria. Há 35 anos, Brasil, China e Coreia do Sul estavam no mesmo patamar como potências para abertura econômica. À essa época, cometi o maior erro da minha vida, em entrevista ao jornal britânico Financial Times, quando apostei no Brasil como o país que teria a posição de liderança nessa corrida. É uma angústia minha ter visto o País perdendo posição até cair para a lanterna.
O cenário logístico no País também afeta a competitividade no mercado? A logística no Brasil não é boa porque não há segurança jurídica ou desoneração tributária sobre investimentos. O encarecimento da estrutura logística descarrega o custo nas tarifas, o que prejudica todo o entorno. À medida que se organiza uma logística mais rentável, a desoneração se paga pela externalidade da economia, em novas indústrias e em um cenário mais competitivo.
Como a agenda de privatizações afetou o setor logístico no País? Há expectativa para melhoria, mas o próximo governo deve trazer uma visão prioritária para a infraestrutura do setor, que é um caminho para o desenvolvimento. A renovação das concessões também é fundamental para a continuidade dos investimentos na rede e integração da malha.
A agenda ambiental também tem peso para as negociações no comércio internacional. Qual é a situação do Brasil nesse cenário? O que aconteceu na última década, especialmente nos últimos três anos, fez com que a nossa promessa como potência ambiental fosse para o espaço. O estímulo à grilagem e ao desmatamento colocou o País como vilão no mercado internacional. Tínhamos tudo para liderar o mercado de descarbonização. A economia verde só assumiu protagonismo aqui por imposição da sociedade. A agenda ESG foi puxada pelas empresas. O papel do governo nesse cenário não está sendo cumprido, o que precisa mudar urgentemente.
Qual é o sentimento comum no mercado hoje? Há desesperança, mas não desistência ou abandono de forma generalizada. Só não podemos continuar em silêncio com os desvarios e equívocos que estamos cometendo. O governo é um retrato da sociedade. Se estamos insatisfeitos com o estado a que chegamos, precisamos mudá-lo.