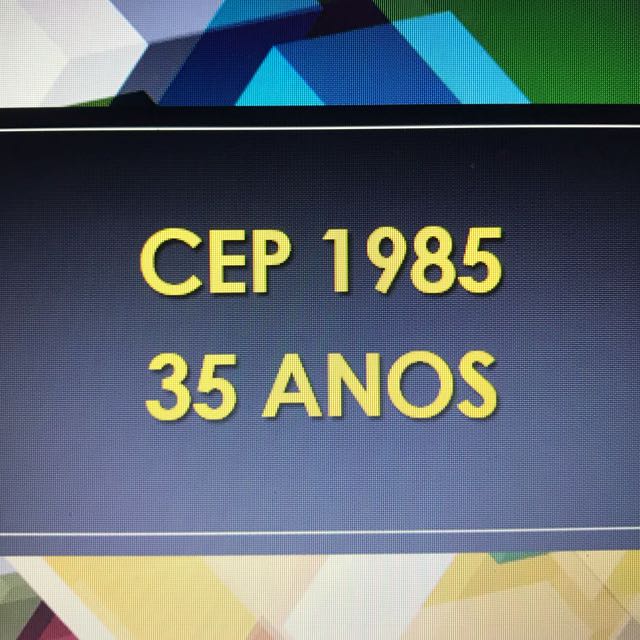segunda-feira, 31 de agosto de 2020
Energia: o Brasil não é a Califórnia(Ítalo Freitas, Valor, 31 8 2020)
O Brasil não é a Califórnia
COLUNISTAS
segunda-feira, 31 de agosto de 2020
Valor Econômico / Opinião
Ítalo Freitas
Em discussões técnicas sérias, poucas coisas podem ser tão graves quanto cair na armadilha fácil das simplificações. No setor elétrico, as simplificações significam empobrecimento dos debates e, nos casos extremos, influenciam de forma enviesada a implementação de políticas que causam danos à evolução do próprio setor.
É por isso que entendo ser fundamental discutir de forma mais profunda os desafios que a Califórnia tem enfrentado na sua transição energética, com apagões durante picos de consumo. Muitos têm feito comparações extremamente equivocadas com o Brasil. Para ampliar o debate, gostaria de abordar atributos como flexibilidade, despachabilidade e potência.
Em primeiro lugar, é preciso entender a matriz elétrica da Califórnia. Em 2019, de acordo com a “California Energy Commission”, cerca de 30% da matriz do Estado era de fontes limpas não hídricas, como eólica, solar, biomassa, geotermal e nuclear. As hídricas respondiam por cerca de 15% e o gás natural por cerca da metade da matriz. Essa configuração, altamente renovável, é fruto de uma política iniciada na década de 90 para incentivar as fontes renováveis. E o que causou o apagão não foi essa configuração, mas sim um dimensionamento inadequado de reservas para operação aliado ao modelo americano de interligação entre os Estados.
Nos Estados Unidos, embora exista interligação entre os sistemas de transmissão dos Estados, as regiões elétricas são mais separadas do que no caso brasileiro, havendo gargalos importantes para escoamento. Em alguns casos, para a transferência energética acontecer, é necessário comprar antecipadamente direitos de transmissão. A exportação e importação de energia entre regiões requer, ainda, mecanismos de oferta de preço.
Já no Brasil, o cenário é muito distinto. Nosso Sistema Interligado Nacional tem uma flexibilidade muito maior, que permite transferências energéticas e suprimento de reserva de potência de forma extremamente ágil. Nossa matriz é pensada nacionalmente e as trocas são rápidas.
O Brasil tem mais de 50% de hidrelétricas e seus reservatórios funcionam como uma grande bateria e eles estão sendo recuperados graças à entrada de outras renováveis no sistema, como as eólicas. Nosso backup é radicalmente diferente do americano. É como se eles tivessem uma pequena bateria recarregável e nós tivéssemos uma gigantesca bateria de longa duração e natural. E, no caso brasileiro, é bom reforçar algo importante: essa grande bateria de longa duração são as hidrelétricas.
Destaco uma diferença importante, específica para o caso da energia eólica. O Brasil, que tem a eólica como segunda fonte de geração em capacidade instalada, possui ventos com predominância unidirecionais e alta intensidade de velocidade média ao longo do ano, que são traduzidos em fatores de capacidade acima de 45%. Já na Califórnia, esse indicador é muito menor: foi de 26% em 2016, de acordo com o “Productivity and Status of Wind Generation in California”.
Menciono, ainda, a inequívoca diferença entre os caminhos da transição energética dos dois países. No ano passado, cerca de 60% da geração de eletricidade nos Estados Unidos veio de combustíveis fósseis — carvão, gás natural, petróleo e outros gases. Na Califórnia, conforme mencionamos acima, a matriz já é mais renovável por um esforço do Estado, na sua busca pioneira por uma matriz limpa, que possibilitou a inserção de novas tecnologias, como o armazenamento químico (íon de lítio) de energia, microgrids e resposta à demanda na composição energética de forma rápida.
Como todas essas tecnologias necessitam de tempo para se estabilizarem nos sistemas e os eventos climáticos estão cada vez mais inesperados e severos, surgiram dificuldades para o sistema em momentos de pico. O pioneiro enfrenta muito mais dificuldades, mas o benefício é grande, neste caso a todo o planeta, já que a Califórnia é um dos grandes consumidores mundiais de energia.
Já o Brasil é renovável, com histórico de décadas com as grandes hidrelétricas representando mais de 60% da geração. Por aqui, a transição energética significa aumentar o peso de renováveis como eólica, solar e biomassa num sistema que já é renovável em si e que, naturalmente, conta com uma abundância de recursos naturais renováveis para geração de energia. Voltando à comparação do parágrafo anterior, a Califórnia tem uma bateria recarregável de backup e tem que gerenciar escassez de recursos renováveis, investindo pesadamente para que eles se desenvolvam. O Brasil, além de ter essa gigantesca bateria de longa duração em forma de reservatórios, tem que administrar não a escassez, mas a abundância de recursos.
Dito tudo isso, importante esclarecer que não pretendo afirmar que não exista espaço em nossa matriz para térmicas, mas sim fazer o seguinte questionamento: o que nós do Sistema Elétrico Brasileiro podemos fazer para tornar nossa matriz com a menor pegada de carbono possível e o custo mais competitivo do mundo?
Temos cientistas e engenheiros de altíssimo nível que podem desenvolver tecnologia nacional para nos dar essa resposta. Esse ponto é fundamental porque estamos a caminho de um mercado cada vez mais aberto, mais livre, que olha os preços de forma integrada com atributos das fontes. E, acima de tudo, o mercado elétrico brasileiro alcançou uma maturidade invejável, construída por meio de decisões e planejamento técnicos baseadas em critérios econômicos, segurança e possibilidade de aproveitar de forma inteligente a grande quantidade de recursos renováveis que temos no Brasil.
Qualquer debate sério sobre matriz elétrica parte do princípio de que uma matriz precisa ser diversificada. O que não podemos é usar o caso da Califórnia, em tudo completamente diferente do brasileiro, para espalhar um infundado terror de falta de segurança de suprimento. A Califórnia não é o Brasil. E o Brasil, com sua inteligência de rede de distribuição, maturidade de mercado com decisões técnicas, alta despachabilidade e abundância de recursos renováveis, definitivamente, não é a Califórnia.
No Brasil, transição energética significa aumentar o peso de renováveis num sistema que já é renovável em si
Ítalo Freitas é CEO da AES Brasil e Embaixador de Energia da Rede Brasil do Pacto Global.
Os quatro caminhos da relação EUA-China(Valor, 31 8 2020)
Os quatro caminhos da relação EUA-China
COLUNISTAS
segunda-feira, 31 de agosto de 2020
Valor Econômico / Opinião
Yuen Yuen Ang
De um governo Biden pode-se esperar menos drama e retórica inflamada
Não há relações diplomáticas bilaterais mais complicadas do que a entre os Estados Unidos e a China, que afeta não só os dois países, mas também toda a humanidade. E agora o futuro dessas relações depende de quem vai liderar os dois países nos próximos anos.
Nos EUA, as próximas eleições presidenciais acontecem em apenas dois meses e — salvo complicações — o Republicano no poder, Donald Trump, ou seu adversário Democrata, Joe Biden, fará o juramento de posse em 20 de janeiro de 2021. No caso da China, porém, quase todo mundo assume que o presidente Xi Jinping deterá as rédeas do poder indefinidamente.
Mas embora uma mudança na liderança chinesa pareça improvável, ela não é impossível. Como tal, realmente deveríamos estar considerando a possibilidade de quatro cenários separados nas relações sino-americanas.
Primeiro, suponha que Biden vença e a China continue sob a liderança de Xi no longo prazo. Num comentário feito anteriormente neste ano à “Foreign Affairs”, Biden prometeu que sua maior prioridade de política externa como presidente será restabelecer a liderança global da América e alianças democráticas. Ele quer investir em infraestrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento. Com um governo Biden, pode-se esperar menos drama e retórica inflamada com a China.
Mas sem dúvida uma ação dura contra as políticas industrial e externa da China continuaria na mesa. Uma vez restabelecido o compromisso da América de defender uma ordem global liberal, os líderes chineses refreariam sua busca por uma liderança internacional. Se a agenda de Biden for concretizada, os EUA estarão mais seguros e assim menos paranoicos com a ascensão da China.
No segundo cenário, Trump consegue outra vitória surpreendente, com profundas implicações para as relações EUA-China. Enquanto a vitória incômoda de Trump em 2016 foi amplamente tida como uma casualidade, uma segunda vitória teria de ser tomada como um endosso “de facto” de seu nacionalismo demagógico e xenofobia.
Num país profundamente dividido e inseguro, a oposição à China poderá se tornar a única questão que membros dos dois lados da divisão partidária poderão abraçar. Com oito anos de Trump no poder, o dano infligido à posição global da América será duradouro, ou mesmo permanente.
É verdade que um otimista pode afirmar que depois de vencer as eleições Trump amenizaria sua postura e se concentraria em fazer negócios com a China, em vez de alimentar a inimizade. Mas se os últimos quatro anos nos mostraram algo, é que Trump joga apenas para as suas bases, que respondem a apelos emocionais e não a análises e deliberações racionais. É mais provável que, um segundo mandato encorajaria o governo Trump a levar os ataques à China a um extremo.
Este cenário seria terrível para a China, mas meio que um presente para Xi politicamente. Quanto mais os EUA aviltarem a China, mais os cidadãos chineses — até mesmo aqueles que se ressentem do controle ditatorial de Xi — vão apoiá-lo. E dentro do Partido Comunista Chinês, qualquer um que ousar criticar Xi será acusado de cooperar com os agressores estrangeiros, e assim devidamente silenciado.
Ainda assim, uma mudança na liderança da China não pode ser descartada. Sim, com a China tendo contido com sucesso a covid-19, enquanto os EUA continuam com dificuldades, Xi parece ter vencido. E como ele já acabou com os limites constitucionais ao seu mandato, ele poderá continuar sendo o líder supremo da China pela vida toda.
Mas atrás dessa fachada de invencibilidade, Xi deverá se sentir tão inseguro quanto Trump na esteira da pandemia. Apesar da certeza de punição, alguns membros do alto escalão do Partido Comunista recentemente se manifestaram contra ele, e em questões econômicas importantes, sua posição e a do primeiro-ministro são uma contradição aberta, uma anormalidade na política chinesa. Na política externa em especial, a postura cada vez mais agressiva de Xi rendeu mais inimigos para a China num momento de tensões domésticas sem precedentes.
Para assegurar a estabilidade política necessária para o crescimento econômico, Deng Xiaoping, o proeminente líder que lançou a “reforma e abertura” no fim do século XX, se dedicou a estabelecer normas de liderança coletiva e a sucessão institucionalizada.
Mas como Xi desmantelou sistematicamente essas normas, o Partido Comunista agora enfrenta uma situação em que qualquer resultado político é possível: Xi poderá ter um mandato vitalício, ser forçado a transferir o poder em 2022 ou derrubado por um golpe súbito. A ausência de eleições periódicas não deve ser tomada como uma afirmação de que a política chinesa é inerentemente mais estável que a dos EUA ou as de outras democracias.
Suponha, para efeito de planejamento de cenário, que um novo líder chinês estivesse negociando com Biden ou Trump. Sob Biden, se poderia pelo menos esperar o engajamento dos EUA na diplomacia profissional. Mas se um distúrbio político na China coincidisse com outro mandado para Trump, todas as apostas estariam em aberto.
Como diz a velha piada, fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro. Ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer nos próximos meses e anos, porque os resultados possíveis estão sendo constantemente desafiados pelas ações e choques atuais como a pandemia e as enchentes inéditas. Mas o que os tomadores de decisões podem e deveriam fazer é considerar cenários diferentes com base nas atuais características e tendências.
Depositar todas as esperanças num resultado que parece mais provável ou desejável é arriscar sucumbir a uma complacência perigosa. Quando se trata da questão crítica das relações EUA-China, a postura sábia é olhar para frente e imaginar todas as possibilidades, por mais impensáveis que elas possam parecer agora.
Atrás da fachada de invencibilidade, Xi deverá se sentir tão inseguro quanto Trump na esteira da pandemia. Apesar da certeza de punição, alguns membros do alto escalão do PC se manifestaram contra ele em questões econômicas importantes
Yuen Yuen Ang , professor de ciências políticas da Universidade de Michigan, Ann Arbor, é autor de ‘How China Escaped the Poverty Trap’ e ‘China’s Gilded Age’.
COLUNISTAS
segunda-feira, 31 de agosto de 2020
Valor Econômico / Opinião
Yuen Yuen Ang
De um governo Biden pode-se esperar menos drama e retórica inflamada
Não há relações diplomáticas bilaterais mais complicadas do que a entre os Estados Unidos e a China, que afeta não só os dois países, mas também toda a humanidade. E agora o futuro dessas relações depende de quem vai liderar os dois países nos próximos anos.
Nos EUA, as próximas eleições presidenciais acontecem em apenas dois meses e — salvo complicações — o Republicano no poder, Donald Trump, ou seu adversário Democrata, Joe Biden, fará o juramento de posse em 20 de janeiro de 2021. No caso da China, porém, quase todo mundo assume que o presidente Xi Jinping deterá as rédeas do poder indefinidamente.
Mas embora uma mudança na liderança chinesa pareça improvável, ela não é impossível. Como tal, realmente deveríamos estar considerando a possibilidade de quatro cenários separados nas relações sino-americanas.
Primeiro, suponha que Biden vença e a China continue sob a liderança de Xi no longo prazo. Num comentário feito anteriormente neste ano à “Foreign Affairs”, Biden prometeu que sua maior prioridade de política externa como presidente será restabelecer a liderança global da América e alianças democráticas. Ele quer investir em infraestrutura, educação e pesquisa e desenvolvimento. Com um governo Biden, pode-se esperar menos drama e retórica inflamada com a China.
Mas sem dúvida uma ação dura contra as políticas industrial e externa da China continuaria na mesa. Uma vez restabelecido o compromisso da América de defender uma ordem global liberal, os líderes chineses refreariam sua busca por uma liderança internacional. Se a agenda de Biden for concretizada, os EUA estarão mais seguros e assim menos paranoicos com a ascensão da China.
No segundo cenário, Trump consegue outra vitória surpreendente, com profundas implicações para as relações EUA-China. Enquanto a vitória incômoda de Trump em 2016 foi amplamente tida como uma casualidade, uma segunda vitória teria de ser tomada como um endosso “de facto” de seu nacionalismo demagógico e xenofobia.
Num país profundamente dividido e inseguro, a oposição à China poderá se tornar a única questão que membros dos dois lados da divisão partidária poderão abraçar. Com oito anos de Trump no poder, o dano infligido à posição global da América será duradouro, ou mesmo permanente.
É verdade que um otimista pode afirmar que depois de vencer as eleições Trump amenizaria sua postura e se concentraria em fazer negócios com a China, em vez de alimentar a inimizade. Mas se os últimos quatro anos nos mostraram algo, é que Trump joga apenas para as suas bases, que respondem a apelos emocionais e não a análises e deliberações racionais. É mais provável que, um segundo mandato encorajaria o governo Trump a levar os ataques à China a um extremo.
Este cenário seria terrível para a China, mas meio que um presente para Xi politicamente. Quanto mais os EUA aviltarem a China, mais os cidadãos chineses — até mesmo aqueles que se ressentem do controle ditatorial de Xi — vão apoiá-lo. E dentro do Partido Comunista Chinês, qualquer um que ousar criticar Xi será acusado de cooperar com os agressores estrangeiros, e assim devidamente silenciado.
Ainda assim, uma mudança na liderança da China não pode ser descartada. Sim, com a China tendo contido com sucesso a covid-19, enquanto os EUA continuam com dificuldades, Xi parece ter vencido. E como ele já acabou com os limites constitucionais ao seu mandato, ele poderá continuar sendo o líder supremo da China pela vida toda.
Mas atrás dessa fachada de invencibilidade, Xi deverá se sentir tão inseguro quanto Trump na esteira da pandemia. Apesar da certeza de punição, alguns membros do alto escalão do Partido Comunista recentemente se manifestaram contra ele, e em questões econômicas importantes, sua posição e a do primeiro-ministro são uma contradição aberta, uma anormalidade na política chinesa. Na política externa em especial, a postura cada vez mais agressiva de Xi rendeu mais inimigos para a China num momento de tensões domésticas sem precedentes.
Para assegurar a estabilidade política necessária para o crescimento econômico, Deng Xiaoping, o proeminente líder que lançou a “reforma e abertura” no fim do século XX, se dedicou a estabelecer normas de liderança coletiva e a sucessão institucionalizada.
Mas como Xi desmantelou sistematicamente essas normas, o Partido Comunista agora enfrenta uma situação em que qualquer resultado político é possível: Xi poderá ter um mandato vitalício, ser forçado a transferir o poder em 2022 ou derrubado por um golpe súbito. A ausência de eleições periódicas não deve ser tomada como uma afirmação de que a política chinesa é inerentemente mais estável que a dos EUA ou as de outras democracias.
Suponha, para efeito de planejamento de cenário, que um novo líder chinês estivesse negociando com Biden ou Trump. Sob Biden, se poderia pelo menos esperar o engajamento dos EUA na diplomacia profissional. Mas se um distúrbio político na China coincidisse com outro mandado para Trump, todas as apostas estariam em aberto.
Como diz a velha piada, fazer previsões é difícil, especialmente sobre o futuro. Ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer nos próximos meses e anos, porque os resultados possíveis estão sendo constantemente desafiados pelas ações e choques atuais como a pandemia e as enchentes inéditas. Mas o que os tomadores de decisões podem e deveriam fazer é considerar cenários diferentes com base nas atuais características e tendências.
Depositar todas as esperanças num resultado que parece mais provável ou desejável é arriscar sucumbir a uma complacência perigosa. Quando se trata da questão crítica das relações EUA-China, a postura sábia é olhar para frente e imaginar todas as possibilidades, por mais impensáveis que elas possam parecer agora.
Atrás da fachada de invencibilidade, Xi deverá se sentir tão inseguro quanto Trump na esteira da pandemia. Apesar da certeza de punição, alguns membros do alto escalão do PC se manifestaram contra ele em questões econômicas importantes
Yuen Yuen Ang , professor de ciências políticas da Universidade de Michigan, Ann Arbor, é autor de ‘How China Escaped the Poverty Trap’ e ‘China’s Gilded Age’.
Mídia em transe(Guzzo, Estado, 30 8 2020)
J. R. GUZZO - Mídia em transe
COLUNISTAS
domingo, 30 de agosto de 2020
O Estado de S. Paulo / Política
Cenário Político-Econômico: Colunistas
O presidente Jair Bolsonaro e os jornalistas provavelmente não estão indo a lugar nenhum com a sua guerra cada vez mais tóxica, intransigente e rancorosa - e se por ventura alguém estiver levando alguma vantagem nessa altercação, nada indica, pelo menos por enquanto, que esse alguém seja a imprensa. Por mais agressivo que se mostre em seus repetidos surtos de agressividade verbal, Bolsonaro não vai fazer os jornalistas mudarem; continuará sendo maciçamente detestado por todos eles, ou quase todos, hoje, amanhã e sempre. Os jornalistas, por seu lado, podem ficar mais e mais indignados, mas não vão tirar um ato de contrição do presidente - e, pelo jeito como estão indo as coisas, nenhum dos seus eleitores.
Bolsonaro, ao que parece, acredita que, descontando o que perde e somando o que ganha no bate-boca permanente com a mídia, pode até agora estar no lucro. Quando mais apanha, mais apoio ele acha que ganha da maioria do público - e, por isso mesmo, vive criando oportunidades de irritar os jornalistas e garantir que o seu nome não saia das manchetes. O presidente dá a impressão de ter chegado a uma conclusão básica: em seus ataques das mais diversas naturezas contra ele, os jornalistas estão falando para si próprios. Seria mais ou menos como no movimento de grupos indígenas que cobram a demarcação de mais terras e denunciam o governo: fazem um sucesso danado em Berlim ou Paris, mas no Brasil mesmo, que é onde as coisas se decidem, ninguém quer realmente saber deles.
Bolsonaro não é um ET - como todo homem político, pode ter defeitos na conduta, no caráter e nas ideias. Mas é preciso, então, procurar quais são exatamente esses defeitos, com base em fatos objetivos, e expor cada um deles ao público. O problema, para a mídia, está em condenar o presidente por vícios que não tem e por erros que não cometeu; aí quem sai ganhando é ele. Bolsonaro é acusado frequentemente, por exemplo, de ser racista - mesmo quando denuncia o racismo, dizem que é fingimento. Mas ele não é racista, assim como não é a maioria das coisas pelas quais vive sendo denunciado. Resultado: quanto mais ataques deste tipo ele recebe da imprensa, mais acaba aparecendo como um santo inocente caluniado por seus inimigos. Os jornalistas, da maneira como têm se comportado nessa história toda, são o adversário que um político pode pedir a Deus.
A mídia brasileira, tal como ela é percebida hoje pelo público, parece estar vivendo numa espécie de transe. Ainda há pouco um jornalista escreveu: "Eu quero que o presidente morra". Que impressão uma coisa dessas pode causar no cidadão comum? Não é normal - e, obviamente, não convence ninguém a ficar contra Bolsonaro. O último desvario desse tipo ficou por conta de uma apresentadora de televisão que afirmou, no ar, ao noticiar um evento do governo chamado "Vencendo a covid-19", que "nem Bolsonaro nem as autoridades presentes prestaram solidariedade às vítimas". Mas todo mundo pôde ver e ouvir que a médica Raissa Oliveira Azevedo de Melo Soares, uma das participantes da cerimônia, pediu um minuto de silêncio em homenagem aos 115 mil mortos na epidemia - e que todos os presentes atenderam ao seu apelo.
Negar um fato que pode ser provado com som e imagem não é apenas errado. É incompreensível. Não dá para dizer que a notícia está correta porque a médica não é uma "autoridade"; se for para usar esse argumento, é melhor ficar quieto. Também não dá para apagar o que a apresentadora falou na televisão. A questão que fica é uma só: a notícia é verdadeira ou falsa? Como não é verdadeira, só pode ser falsa. Fica difícil ganhar uma guerra desse jeito.
Presidente e jornalistas não estão indo a lugar nenhum com essa guerra tóxica e rancorosa
domingo, 30 de agosto de 2020
sábado, 29 de agosto de 2020
Jacinda , a vacina(Demétrio Magnoli, FSP, 29 8 2020)
Jacinda , a vacina
sábado, 29 de agosto de 2020
Folha de S. Paulo / Poder
Demétrio Magnoli
Extermínio do vírus é o canto de sereia que enfeitiça a primeira-ministra da Nova Zelândia
A Nova Zelândia entrou em "lockdown" em março, para emergir em maio declarando um triunfo completo: a supressão do vírus. Jacinda Ardern saltou, então, da condição mundana de primeira-ministra ao estatuto mítico de Exterminadora. Duas semanas atrás, Auckland fechou de novo, após a irrupção de quatro novos de casos de contágio. Há, aí, uma lição.
As duas ilhas dos mares do sul, fragmentos remanescentes de um microcontinente parcialmente submerso, berços de uma nação de classe média, formam o lugar ideal para o experimento supressivo. O fracasso prova que o coronavírus não é exterminável â?"ainda que a Exterminadora insista, incansavelmente, em perseguir seu pote de ouro.
A Alemanha situa-se na ponta oposta da estratégia neozelandesa. Os alemães escolheram administrar os contágios, minimizando os óbitos por meio de quarentenas moderadas e do controle de focos de transmissão pela testagem em massa. No lugar da utopia de eliminação do vírus, eles definiram o objetivo de combater a epidemia com doses limitadas de restrições à vida social.
Os discursos vulgares sobre a vacina inscrevem-se no campo lógico personificado por Ardern. Fala-se da Vacina no singular e com maiúscula. A sua chegada marcaria a Redenção: o alvorecer dourado da imunidade absoluta.
Sob essa ordem de ideias, com tons religiosos, acompanha-se fervorosamente a "corrida pela vacina" travada por concorrentes americanas, britânicas, chinesas, alemãs e até uma trapaceira russa. A salvação final tornou-se tema de geopolítica global e prestígio nacional. Nada indica, porém, que num dia determinado a humanidade celebrará a vida sem vírus em torno de um frasco único de imunizante.
De fato, especialistas sóbrios traçam um cenário mais complexo, de ondas vacinais sucessivas superpondo-se ao longo do tempo. Países e grupos demográficos diversos serão vacinados com produtos diferentes. Em certos casos, os mesmos indivíduos receberão mais de uma dose de imunizantes, ou coquetéis de vacinas. No fim do arco-íris, o vírus não será totalmente exterminado e, por razões genéticas ou recusa à vacinação, restarão frações populacionais suscetíveis à doença.
Inexiste uma nítida, fina linha de fronteira de imunidade coletiva. Os fundamentalistas epidemiológicos celebraram a imaginária supressão neozelandesa enquanto, contraditoriamente, alertavam que o nirvana imunitário só poderia ser atingido após o contágio de mais de 70% da população.
As bruscas quedas de infecções em "pontos quentes" tão distintos quanto Manaus, Guayaquil e Estocolmo evidenciaram, pelo contrário, que a chamada "imunidade de rebanho" manifesta-se gradualmente bem antes disso, talvez desde o umbral de 30% de infecções.
Nas áreas que percorrem a extensa faixa da imunidade coletiva, as ondas vacinais adicionarão taxas extras de proteção imunitária a populações já pouco suscetíveis à doença. Em outras, oferecerão graus variados de imunidade. Mas o Extermínio é uma miragem, uma lagoa azul no deserto, o canto de sereia que enfeitiça Ardern. Como tantos agentes infecciosos, o coronavírus conviverá com a humanidade para sempre, acendendo pequenas, efêmeras fogueiras localizadas.
"Temos sido o líder mundial na resposta à Covid â?"podemos fazer tudo aquilo novamente", proclamou Ardern ao decretar o recente fechamento de Auckland. Jacinda mal oculta, atrás da promessa santa de salvar vidas, a meta de inscrever na pedra sua liderança moral. Por isso, dobra a aposta, investindo em sucessivos "lockdowns" para alcançar o que nem a vacina conseguirá. O empreendimento testa a resistência social de uma nação inteira â?"e, paradoxalmente, só será coroado de um enganoso sucesso se a vacinação em massa não tardar.
A obsessão exterminista é a imagem invertida do negacionismo epidemiológico. Não há ciência alguma nas duas posturas simétricas.
sexta-feira, 28 de agosto de 2020
Coordenação falha dificulta resposta contra covid-19(Valor, 27 8 2020)
Coordenação falha dificulta resposta eficaz contra covid-19
Cenário Entidades e profissionais do setor reivindicam um plano nacional
quinta-feira, 27 de agosto de 2020 - 00:00
Valor Econômico / Especial - Saúde
Ricardo Lessa
A falta de comunicação e coordenação é apontada por boa parte da comunidade médica — e também por dirigentes e ex-ocupantes de cargos públicos no setor — como a maior responsável pela trágica colocação do Brasil no segundo lugar mundial em número de contaminados e mortos pela covid-19, superado apenas pelos Estados Unidos.
“Nós entregamos [a diferentes chefias de departamento no Ministério da Saúde] um plano nacional de enfrentamento à pandemia no dia 15 de julho e até agora não recebemos nenhuma resposta”, diz Gulnar Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), que reúne profissionais de saúde de todo o país, e outras 19 associações nacionais médicas e de enfermagem.
“Eu tive que descobrir uma conferência onde o ministro da Saúde [Luiz Henrique Mandetta, na época] estava para trocar duas palavras com ele”, relata o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio Morato. Com os ministros que se seguiram, a entidade, que representa os 4.267 hospitais privados do país, não conseguiu nenhum contato.
Até hoje, passado mais de meio ano do registro do primeiro óbito no Brasil, em 12 de março, não há um plano de ações que integre governo federal, Estados e municípios para enfrentar a covid-19.
Em resposta às colocações dessas entidades do setor sobre a falta de contato com o ministério e de um plano integrado para o enfrentamento da pandemia, o Ministério da Saúde informa, em nota, que está aberto a qualquer solicitação e colaboração. “Os Estados elaboraram seus planos de contingência — os quais consolidaram e integraram os planos municipais de contingência e as necessidades locais. A Associação Médica do Brasil (AMB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) participam como convidados nas reuniões do Gabinete de Crise do Ministério da Saúde, fórum do Ministério da Saúde, com participação do Conass [Conselho Nacional de Secretários de Saúde] e Conasems [Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde]”.
O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ocupava cargo desde o início de 2019, diz que estava preparando tudo para coordenar a ação entre os diversos níveis da administração, empresas, hospitais públicos e privados para enfrentar a pandemia quando foi dispensado, em 17 de abril. “Estávamos prontos para botar na rua nosso exército de 340 mil agentes comunitários espalhados por todo o país quando tudo foi congelado.” Quando Mandetta deixou o cargo, o Brasil registrava 2.141 óbitos causados pelo novo coronavírus.
“Os 28 dias do ministro Nelson Teich representaram mais um mês perdido”, lamenta Carlos Eduardo de Oliveira Lula, atual presidente do Conass. “Ele não tinha experiência com saúde pública”, resume. Procurado, Teich preferiu não dar entrevista.
Por ironia, coube a Carlos Lula, de 38 anos, que há dois meses assumiu o cargo de secretário de saúde do Maranhão, governado por Flavio Dino (PC do B), destravar os contatos com o ministério da Saúde. “O general [Eduardo] Pazuello, atual ministro, me chama brincando de presidente Lula”, conta o secretário de 38 anos, que tem Lula como sobrenome e não por referência ao ex-presidente da República. “Não concordamos com tudo, mas pelo menos a comunicação hoje é mais fluida”, afirma. “Pazuello ligou para todos os secretários para se apresentar logo que tomou posse”, conta. Um gesto de aproximação, reconhece o maranhense.
Não foi assim nos meses iniciais da pandemia, cruciais para conter a doença. “Perdemos muito tempo em discutir se deveríamos ou não adotar o isolamento, se a cloroquina ia matar o vírus, em vez de agir rapidamente”, observa o presidente do Conass.
“As preocupações eram mais políticas do que com a saúde da população”, registra. “O presidente não se importava em ter mais mortes, mas não queria parar a economia, o que causaria desemprego e queda na arrecadação, e colocar em risco sua reeleição em 2022.” Procurada, a assessoria de imprensa da Presidência não respondeu aos pedidos de entrevista feitos pelo Valor .
Diferentemente das entidades médicas e dos secretários de saúde, a centenária Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sediada em Manguinhos, no Rio de Janeiro, sempre teve linha aberta para o Ministério da Saúde. “A interlocução entre Ministério da Saúde e Fiocruz se manteve estável em todo o período de troca de ministros”, informa a presidência por meio de sua assessoria de imprensa.
Vinculada ao Ministério da Saúde desde 1970, após a cassação de dez de seus mais renomados cientistas pela ditadura militar, a Fiocruz recebeu como dotação inicial para este ano R$ 4,17 bilhões. Depois do início da pandemia do coronavírus ganhou R$ 2,8 bilhões adicionais, aprovados por quatro medidas provisórias, para seus diversos programas de contenção da doença.
Empresários e entidades civis também se mobilizaram para ajudar a fundação. As doações chegaram perto dos R$ 300 milhões, vindos de 85 instituições — desde grandes empresas, escolas de samba, a Associação de Funcionários da Biblioteca Nacional, com R$ 1.500, e 2331 indivíduos que contribuíram com cerca de R$ 900 mil.
Fabricante de 80% das vacinas contra a febre amarela distribuídas pelo mundo, a Fiocruz é a única instituição na América Latina que reúne em sua estrutura toda a linha desde a pesquisa à produção de medicamento, passando por atendimento hospitalar e ainda o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, lembra o coordenador do Observatório Covid-19 da fundação, Carlos Machado.
Por isso, os brasileiros poderão estar entre os primeiros a receber as vacinas contra a covid19 fabricadas pelo Laboratório da Bio-Manguinhos da Fiocruz, desenvolvidas em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório Astra-Zeneca. A produção, com transferência de tecnologia para a Fiocruz, está prevista para abril do ano que vem.
O explosivo avanço da doença por todo território nacional acabou proporcionando oportunidades de testagem para os grandes fabricantes mundiais de medicamentos. O chinês Sinovac fez parceria com o Instituto Butantã de São Paulo, outro centro de pesquisas nacional com nível de excelência internacional e o Laboratório Pfizer recrutou mil brasileiros para testar a sua vacina, segundo o “New York Times”, de 15 de agosto.
“Estou com muita confiança na eficiência da vacina”, afirma o especialista em modelos epidemiológicos, pós-graduado no Imperial College de Londres, Eduardo Massad, que atualmente assessora o Instituto Butantã no fornecimento de dados sobre a pandemia ao governo de São Paulo.
Mas isso é coisa para o início de 2021, até lá, Massad, 68 anos, diz que não sai de casa. Por suas projeções, o país continuará nessa “água morna”, representada nos gráficos de casos e óbitos de contaminados pela pandemia no platô de números, que, para ele, só baixarão de forma significativa no ano que vem.
“O platô é a assinatura do fracasso”, diz Massad, professor de matemática aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV). “Cada ponto percentual de queda no distanciamento social significa mais mortes”, afirma. Ele lamenta que São Paulo esteja mantendo um nível de 40% de isolamento, muito distante dos desejáveis 70%. “Se tivéssemos conseguido chegar a 50% de distanciamento em São Paulo, por exemplo, teríamos poupado 1.300 vidas.”
“No Brasil, nessa toada, chegaremos a 150 mil óbitos em novembro e 200 mil até o final do ano, com 5 milhões de pessoas contaminadas”, prevê, com a cautela de acrescentar que todas as projeções com mais de um mês e meio são falhas. “As projeções do início do ano previam cenários apocalípticos”, comenta, em referência às previsões do Imperial College de Londres, que projetava mais de 1 milhão de mortos no Brasil, ou da Universidade de Washington, de 5 mil mortos por dia.
No Centro-Oeste brasileiro, o cenário da saúde em Goiás não está muito longe do apocalíptico. “A gente esperava um traque e o que veio foi uma bomba atômica”, compara o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio Moratto, médico e dono de hospital na capital do Estado. Ele prevê um futuro devastador para os estabelecimentos que representa, 70% deles com menos de cem leitos, com falências e demissões de funcionários.
Entre os hospitais privados associados à federação, cerca de 60% são filantrópicos, e 90% prestam serviços ao SUS. “Estão agora com 60% ou 70% de leitos ociosos, porque a população está com a pandemia do medo, ninguém quer ir para o hospital, tem gente morrendo em casa e até na rua de outras doenças”, afirma.
Moratto compara o momento atual com um pós-tsunami: “Deveria ter um plano para salvar as pessoas que estão no alagado e muita gente ainda pode morrer afogada ou de outras doenças”.
Do Norte do país, o presidente do Conass , Carlos Lula, compartilha as apreensões do representante da iniciativa privada. “Ainda podemos viver outras tragédias .” Ele lembra que só recentemente foi licitado o fornecimento para o chamado “kitintubação”, que inclui os anestésicos necessários ao procedimento. “Os hospitais estão com seus estoques em níveis críticos. Muita gente está sendo intubada sem anestesia. Imagine enfiar um tubo na traqueia de uma pessoa sem sedação”, diz. “Apesar de todas as dificuldades, construímos em tempo recorde 13 hospitais no Maranhão, sendo que nove serão incorporados na rede permanente do SUS”, conta.
Até mesmo a organização que reúne os 119 hospitais considerados de elite no Brasil, como Albert Einstein, Sírio Libanês e Rede D’O r, concentrados na região Sudeste, a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anaph), reconhece a importância do papel que o SUS desempenha durante a pandemia. “Foi fundamental apesar de todas as dificuldades”, diz Henrique Neves, porta-voz da associação. Para ele, a rede de atenção básica no Brasil é uma das mais importantes do mundo, mas poderia ser mais bem utilizada.
“Sem o SUS teria sido a bárbarie”, afirma o ex-ministro o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Se dentro dessa derrota [do Brasil pela covid-19] tem um vencedor, esse vencedor é o SUS.”
Isolado em Goiânia, na biblioteca do Colégio Dom Bosco, onde estudou e costuma realizar suas videoconferências, ele lamenta que o país tenha alcançado números “superlativos” na pandemia.
“De início, pensávamos que se tratava de um vírus pesado mais letal, porém com menos poder de contaminação. Seria mais fácil de controlar”, lembra. Mas não foi assim. Logo as mortes começariam a ser anunciadas na Itália.
Ele recorda: “Tinha um jantar marcado, durante a Conferência de Davos, em 21 de janeiro, com o presidente da OMS, Tedros Adhanom. Ele não foi por causa das notícias inquietantes do novo coronavírus que surgira em Wuhan, na China. Mas a expectativa era de que o vírus poderia ser contido localmente”. O Brasil não fechou os aeroportos, diz o ex-ministro, “por que quando nos demos conta já era tarde demais”. Mandetta afirma que “é muito difícil fazer alguma coisa quando o presidente te desautoriza o tempo todo e não aceita as medidas que as autoridades mundiais de saúde recomendam”.
Ele considera que “o presidente Bolsonaro não saiu do estado de negação, foi até a raiva, mas não chegou na reflexão”. “Trump, nos Estados Unidos, e Boris Johnson, na Inglaterra, que pegou a doença e precisou ser internado numa UTI, pelo menos voltaram atrás.”
“Ele [Bolsonaro], diz Mandetta, queria botar alguém no ministério do tipo faz-o-queeu-mando-e-cala-a-boca. Só poderia ser um militar para fazer esse papel.” Sua exposição na mídia incomodava o presidente, avalia o ex-ministro. “No dia 12 de abril (domingo de Páscoa) eu dei entrevista exclusiva para o jornal “Fantástico” da “TV Globo”, no dia 17 ele me demitiu”, afirma. Mandetta declarara, na ocasião, apoio ao isolamento e dizia esperar uma “fala única” do governo federal, senão “o povo não sabe se escuta o ministro ou o presidente”.
Sem comando único, “cada Estado resolveu fazer o que quis e pôde, de sua maneira”, lembra Carlos Lula.
Os números da pandemia no Maranhão confirmam que o caminho adotado pelo Estado está correto: há dez semanas caem seguidamente os óbitos e a contaminação. O índice de mortalidade é a metade do Estado do Rio de Janeiro, onde são apuradas denúncias de desvio de recursos da pandemia: 46,7 em comparação a 87,3 por 100 mil habitantes.
Em Roraima, conta o ex-ministro Mandetta, “a quantidade de dinheiro que se mandou para lá daria para mandar todos os índios para Miami de avião para se tratar lá”.
Um dos efeitos da pandemia foi mostrar que dinheiro pode ajudar, mas não resolve o problema da saúde. O vizinho Paraguai, com quase um décimo dos recursos per capita (US$ 180,00), do Brasil (US$ 1.280), conseguiu deixar o índice de mortes em 24 por milhão de habitantes, enquanto o Brasil passa dos 500. Nada famoso pelo controle de suas fronteiras, o Paraguai teve sucesso ao barrar o avanço do vírus em seus limites. Na Europa, a rica Suécia (575 mortes por milhão de habitantes) bate de longe a sempre turbulenta Grécia (23), os dois países com população semelhante.
A que fez diferença em países que controlaram o vírus, como Taiwan, Vietnã, Nova Zelândia, Uruguai e Paraguai, é o rigoroso distanciamento social. Sem distanciamento, não há dinheiro que chegue. “Os Estados Unidos tem o sistema de saúde mais caro do mundo e o mais improdutivo”, diz John E McDonough, professor PHd de políticas públicas e gerenciamento em saúde em Harvard.
O Brasil está se aproximando dos Estados Unidos, (que não tem sistema público de saúde, segundo o McDonough, “tem programas”), em total de óbitos por milhão de habitante (528 em comparação a 535), segundo dados de 21 de agosto do Worldometers .
O Brasil possui sistema público de saúde, mas o dinheiro demora a chegar até as macas de hospitais e quando chega, chega atrasado. O SUS só recebeu recursos para a pandemia no início de agosto, aponta a presidente da Abrasco, Gulnar Azevedo. Dos R$ 39,2 bilhões aprovados em abril como recursos extraordinários, 30% ainda não foram nem empenhados (colocados à disposição).
O dinheiro ainda percorre um longo caminho até ser de fato aplicado em assistência. “Boa parte dos equipamentos do SUS, desde hospitais até postos de atendimento médico, é gerida por sociedades privadas, as OS [Organizações Sociais] com desempenhos variados, pouca transparência e sobretudo nenhuma avaliaç ã o”, observa Mario Scheffer, professor da Escola de Medicina da USP.
É um processo, segundo ele, que começou depois da aprovação da Lei das OS (Lei 9637), em 1998, como forma de driblar o engessamento do Estado. Atualmente, 65% do SUS em São Paulo são geridos por sociedades desse tipo.
Em cada Estado a realidade é diferente: “A pandemia revelou a gigantesca desigualdade do Brasil, entre regiões e dentro das cidades”, observa Christóvão Barcellos, vice-diretor do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz.
Os números do Datasus de junho revelam o desequilíbrio: 3.718 hospitais e 421.828 médicos no país, sendo que a grande concentração de hospitais é no Nordeste, com 1.650. Já mais da metade dos médicos — 219.163 — fica no Sudeste.
Grandes defensores do SUS, não desconhecem suas fragilidades. O ex-ministro Mandetta, por exemplo, afirma que, durante sua gestão, sentiu falta de um SUS mais forte. Os professores Shecker da USP e Ligia Bahia, da UFRJ, rebatem as simplificacões. “Um hospital público, como o das Clínicas de São Paulo, pode ser tão bom quanto um ótimo hospital privado. Por outro lado uma rede privada pode ter resultados tão ruins quanto um hospital público”, argumenta Ligia.
É comum entre os médicos se falar do desmantelamento do SUS, desde sua aprovação pela Constituição em 1988, garantindo direito universal de saúde para todos os brasileiros. Para Ligia “não houve desmantelamento, porque nunca houve mantelamento”, brinca com o neologismo.
O ex-ministro Mandetta rejeita o Fla-Flu, entre os defensores do sistema público e privado. “Enquanto cada lado estiver puxando a cenoura para o seu lado, como na história dos dois burros, não se vai a lugar nenhum.”
Ele argumenta que existem muitas experiências exitosas de colaboração público-privada e que o Estado brasileiro tem capacidade limitada de fazer investimentos. Ligia e Shecker não rejeitam essa ideia, mas advogam um maior controle e avaliação do privado pelo público.
A falta desse controle, de um plano nacional integrado e comando único para o combate da pandemia — reclama - ção da Abrasco, do Conass, da maioria das entidades de médicos — geraram milhares de mortes desnecessárias entre os brasileiros.
A avaliação da Anahp, que reúne os mais renomados hospitais privados do país, todos com certificações de qualidade, é que a rede de saúde brasileira reagiu bem à pandemia “a mais relevante da história”, segundo o porta-voz da associação, Henrique Neves. “A pandemia trouxe muitas lições”, diz, “o país se ressentiu da falta de isolamento social, mas evitou o crescimento exponencial da doença”.
Embora tenha se mostrado preparado, o sistema de saúde sofreu com a falta de rastreamento dos infectados, de testes, e com a limitação de insumos para os hospitais — como ventiladores e equipamentos de proteção, nos primeiros meses. “Ao longo dos meses isso foi superado”, avalia.
Os hospitais pertencentes à Anaph, segundo ele, tiveram queda de faturamento de 40% em maio e junho. “Perdemos provavelmente dois meses e meio do ano”, contabiliza. “Mas já estamos em recuperação, ainda tímida.”
Em vez de perder empregados, informa, os associados registraram alta na contratação, porque o absenteísmo cresceu 50% durante a pandemia. O saldo de admissões do setor saúde ficou positivo em 43 mil, segundo dados da Caged.
Os hospitais da Anaph faturaram R$ 40 bilhões no ano passado. No primeiro semestre deste ano tiveram redução de 26,3% nas internações em relação ao mesmo período de 2019, e um resultado operacional 60% menor, na mesma comparação. Na outra ponta, os custos de alguns insumos chegaram a subir 300%.
OLHO: Os hospitais estão com seus estoques em níveis críticos, falta anestesia para fazer intubação
Federação Brasileira de Hospitais prevê um futuro devastador para os estabelecimentos que representa
A avaliação da Anahp, que reúne hospitais privados, é que a rede de saúde brasileira reagiu bem
quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Concertação” reúne 100 líderes para “salvar ” a Amazônia(Valor, 26 8 2020)
“Concertação” reúne 100 líderes para “salvar ” a Amazônia
Ambiente Aliança entre empresários e pesquisadores busca meios de desenvolver região sem derrubar floresta
quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Valor Econômico / Especial
Daniela Chiaretti
Uma ampla aliança pela Amazônia está se formando entre donos e executivos de grandes empresas e bancos, pesquisadores, militares, economistas, políticos e ambientalistas. Batizada de Uma Concertação pela Amazônia, a iniciativa já reúne mais de 100 nomes interessados em entender a região, discutir como desenvolver seu potencial sem derrubar a floresta e melhorar a qualidade de vida da população. A intenção é construir pontes com o resto do país. Trata-se de mais um esforço do setor privado, da Academia e da sociedade civil de se organizar e debater diferentes visões para a Amazônia no vácuo deixado pelo poder público.
A iniciativa não é institucional e ainda não é propriamente um movimento, mas ganha força a cada reunião. Foi motivada por Guilherme Leal, sócio e co-fundador da Natura, uma das empresas pioneiras em negócios a partir da biodiversidade da floresta. Leal, que nasceu em Santos mas é filho de pai paraense, foi maturando a ideia antes ainda das queimadas de 2019, que produziram enorme reação mundial. “Não sei exatamente o que a motivou, talvez a radicalização das posições, mas aflorou claramente uma percepção de que existia um risco importante crescendo em relação à conservação da Amazônia”, diz.
Em fevereiro, alguns dos maiores empresários do país se reuniram em um almoço, em sua casa.
Ali se encontraram o presidente do Itaú Unibanco Cândido Bracher e a esposa Teresa Bracher, o sócio e presidente da Fundação SOS Mata Atlântica Pedro Passos, Roberto Klabin e outros. Amigos envolvidos com esta discussão e esforço também foram procurados, como José Roberto Marinho, presidente do Instituto Humanize. Iniciou-se a partir daí uma série de aproximações de lideranças e formadores de opinião que estão criando uma visão sobre o papel da Amazônia no mundo e no Brasil.
Há consenso de que a discussão sobre a Amazônia deve ter mais densidade na sociedade brasileira, que é preciso debater modelos de desenvolvimento para a região e que é necessário colocar o mundo empresarial a bordo.
“Eu não gosto de reinventar a roda e também não acredito que as grandes transformações e os desafios mais relevantes são enfrentados de maneira isolada”, diz Leal.
“Queria entender as muitas entradas, quem são os stakeholders relevantes neste cenário, quem pode implementar uma visão que una mais conservação e produção.”
Leal pediu ao seu time que mapeasse as iniciativas já existentes e que vem ganhando força nos últimos meses. São muitas e variadas.
Há o movimento dos CEOs que assinaram carta endereçada ao vicepresidente Hamilton Mourão, que conduz o Conselho Nacional da Amazônia Legal, redes de pesquisadores reconhecidos que estudam a floresta, as recomendações de ex-ministros da Fazenda e expresidentes do Banco Central, o consórcio de governadores da Amazônia, as manifestações de líderes religiosos, as iniciativas de fundações de filantropia.
Se todas as iniciativas ficassem abaixo de um grande guarda-chuva, o resultado seria uma espécie de Frente Ampla pela Amazônia. Leal não usa este nome, diz que o que há, por enquanto, é apenas uma conversa entre esta miríade de grupos e pessoas interessadas na região amazônica. Não é sequer um movimento, embora tenha este potencial. Fundador do Instituto Arapyaú, ele se refere à iniciativa conjugando verbos no plural.
“Não é minha, não tem dono”.
Candido Bracher havia voltado de Davos impressionado pela preocupação do mercado e das lideranças globais com a emergência climática. O banqueiro começou a ter mais proximidade com a temática ambiental através dos projetos de conservação no Pantanal conduzidos há 15 anos pela esposa Teresa Bracher. “Tenho a impressão que neste esforço temos que aliar forças e construir consensos sobre a forma de preservar.”
“Costumo dizer que precisamos transformar a Amazônia em uma questão de Estado, não de govern o”. Ele faz um paralelo entre o desafio colocado pela contenção do desmatamento da Amazônia e o controle da inflação, no passado.
“Aquilo era um flagelo e hoje não precisamos mais falar disso”, diz.
“Sonho com o dia em que nenhum candidato à presidência terá que dizer que irá reduzir o desmatamento na Amazônia ou criar mecanismos de comando e controle.”
Encontrar maneiras de ajudar os brasileiros mergulhados no drama da pandemia aproximou Bracher dos CEOs dos outros dois grandes bancos privados do país, Bradesco e Santander. Os três lançaram há um mês um plano para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O presidente do Itaú Unibanco é claro: “Precisamos inverter este círculo vicioso onde estamos. A impressão que passa para o mundo é de descaso.
Deste jeito, ninguém se anima a ajudar. Não se tem credibilidade se não conseguirmos reverter isso”.
José Roberto Marinho, presidente do Instituto Humanize, apoia e integra a movimentação em defesa da Amazônia olhando para as vocações locais e os ativos da sociobiodiversidade. “Investimos na região há mais de dez anos e reconhecemos que a construção da solução só poderá ser alcançada por um coletivo de organizações de múltiplas naturezas como o da Concertação pela Amazônia iniciada pelo Guilherme Leal via Instituto Arapyaú”.
“Acho que há um problema generalizado na abordagem da Amazônia, que é focar mais na questão ambiental”, diz Denis Benchimol Minev, diretor presidente da Bemol, uma rede de 24 lojas de departamento nos Estados da Amazônia Ocidental com 3.200 funcionários e sede em Manaus. Minev comanda um dos maiores negócios da região — a Bemol é o maior contribuinte de ICMS do Estado do Amazonas. “O desmatamento é o efeito colateral de um sistema muito ruim, que atrai maus empresários e expurga os bons”, diz.
Na visão de Minev, no curto prazo, a ação do Exército funciona para conter o desmatamento. “Mas isso é enxugar gelo. Melhora este ano, mas volta tudo no ano que vem. Para resolver, de verdade, é preciso criar uma economia próspera na região, na qual a floresta vale mais em pé do que derrubada.
É um bordão bonito, que todo mundo defende, mas não é verdade”. Minev, que foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas e estudou economia em Stanford, esclarece: “Para quem vive no interior da Amazônia, a floresta não vale mais em pé do que no chão”.
Ele se diz que a região não está preparada para “jogar o jogo dador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central. “Este é um assunto urgente.bioeconomia, que é um jogo de cérebros, e não apenas de recursos naturais”. Minev justifica com o orçamento anual do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA — R$ 50 milhões — e o da Universidade de Stanford — US$ 7 bilhões. “É 700 vezes maior”.
Com ele concorda o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que comandou a missão de paz no Haiti e também a missão de estabilização da ONU na República Democrática do Congo, e que participa da Concertação — o Exército é a instituição mais presente na Amazônia. “A Amazônia é assunto de atenção mundial”, diz, reforçando a dimensão da região. “Só o Estado do Pará dá três vezes a Alemanha, duas vezes a França. Estamos falando de uma área de dimensão enorme. E temos o que lá? Talvez 500 fiscais do Ibama? Isso não é nada”.
Santos Cruz sugere que o modelo de fiscalização adotado siga o sistema federativo. “Quem sabe o que acontece lá na cidadezinha é a Prefeitura. Tem que se levar em consideração isso, com tarefas da União junto com os órgãos estaduais e municipais”. Ele recomenda, por exemplo, que os Estados da Amazônia tenham uma Polícia Florestal especializada. “A estrutura tem que ser funcional.”
“Acho interessante a iniciativa na medida em que pode contribuir com ideias”, diz o general, ex-secretário de governo nos primeiros seis meses da presidência de Jair Bolsonaro. “O governo tem que estar aberto a ideias e abrir a discussão. Há vários grupos interessados em discutir a Amazônia. Tem que se aproveitar esta massa crítica”, observa.
“Vivemos um boom de interesse pela Amazônia, que identifico a partir do ano passado, com a chegada da nuvem negra naquela tarde de agosto de São Paulo”, diz a empresária e ambientalista Bia Saldanha, que vive no Acre há 12 anos. “Vivíamos esta situação sempre, com as queimadas, mas foi impactante quando o centro econômico da América do Sul sentiu isso fortemente”.
“As iniciativas que procuram discutir o desenvolvimento da região devem entender que Amazônia e Brasil não são coisas separadas”, recomenda Tatiana Schor, secretária-executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. “O que acontece é que há muita gente de fora da região, pensando a região, e a Amazônia não é para amadores. A tendência é as pessoas terem expectativas que não se realizam no chão”.
“Há muitas iniciativas sobre a Amazônia, muitas redes de conversa. A Concertação não é única nem quer ser”, diz Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS). Ela traduz esta efervescência: “É quase como se a sociedade brasileira estivesse absorvendo um pacto de ‘vamos pensar a Amazônia juntos’”. Ana observa duas vertentes importantes neste movimento. “Uma, logicamente, é que o Brasil está falando sobre a Amazônia. Temos que dar visibilidade e fortalecer as vozes da Amazônia”, registra.
O segundo ponto é uma pergunta: “Quem pauta a Amazônia, politicamente? Infelizmente, nenhum outro político havia feito isso até a eleição de 2018. O único que trouxe a Amazônia para a pauta, infelizmente, foi Jair Bolsonaro”. Para Ana, é preciso que futuros candidatos às Prefeituras, governos estaduais e à Presidência coloquem suas visões sobre desenvolvimento e proteção da floresta. “Tem que estar na pauta eleitoral, para que possamos cobrar depois”.
“O Brasil está acordando. A postura das lideranças empresariais nesta área é um sinal claro de que há uma mudança”, diz o economista Arminio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central. “Este é um assunto urgente. O Brasil já passou o limite de risco de desmatamento. Temos que ter soluções pragmáticas que permitam reflorestamento”, diz ele. Fraga diz que “desmatamento zero, não é suficiente, na minha leitura”
Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), entidade que reúne 60 das maiores companhias no Brasil, define a Concertação como “um hub de diversas iniciativas sobre a Amazônia”. Ela diz que uma característica interessante da iniciativa é que ela “faz pontes entre o que já existe e o que pode existir, com várias e diversas sinapses”.
Para Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), o que há de mais interessante na iniciativa “é estar olhando para a Amazônia como um todo”. Brito e Marina foram articuladores do Movimento dos CEOs. “Para fazer o desenvolvimento da Amazônia tem que olhar para todos os setores inseridos no processo — mineração, agro, serviços. Todos esses acabam tendo influência nos aspectos positivos ou negativos da Amazônia.”
Brito, que viveu muitos anos na região, acredita que também é preciso lembrar que, “na Amazônia, entre o legal e o ilegal há o informal. Que não é legal por falta de estrutura para se legalizar”.
“Acho que falta ao Brasil, de fato, um projeto para a Amazônia”, diz Wilson Brumer, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e que presidiu a Vale entre 1990 e 1992, quando a empresa era estatal. “Reflorestar áreas degradadas não pode ser uma forma de geração de renda e desenvolvimento?”, questiona.
O mosaico de personalidades que vem se juntando à iniciativa é amplo e diverso. Estão lá ex-ministros de Meio Ambiente como Izabella Teixeira e José Carlos Carvalho, o ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente Francisco Gaetani, o ex-governador do Pará Simão Jatene, o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, o economista Juliano Assunção, da PUC/RJ, cientistas como Carlos Nobre e Raoni Rajão, pesquisadores como Adalberto Veríssimo (Imazon), Tasso Azevedo (MapBiomas) e André Guimarães (Ipam), representants de organizações socioambientais como Rachel Biederman (WRI Brasil), Mauricio Voivodic (WWF) e Ilona Szabo (Igarapé). Empresários como Marcos Molina (Marfrig), Pedro Paulo Diniz, executivos como Márcio Nappo (JBS) e Philippe Prufer (ex presidente da Eli Lilly), além de, Fernando Fleck (Fundação Moore), Johannes van de Ven (Good Energies) e muitos outros.
“Para avançarmos com desenvolvimento sustentável baseado em baixas emissões, economia verde com floresta em pé, redução efetiva do desmatamento e ordenamento territorial é preciso uma orquestração de várias esferas da sociedade”, diz Cira Moura, secretária-executiva do consórcio de governadores da Amazônia. “Para superar os desafios é preciso várias mãos, vários atores”, continua. Mas ela alerta: “Eu queria destacar que todos conhecemos os desafios, que já estão claramente identificados.
Temos que partir para uma ação efetiva, que gere entregas efetivas para a sociedade”.
Já ocorreram três reuniões da Concertação, que a cada edição reúne mais gente. “Partimos de discussões fundamentais. Como o que é desenvolvimento para a Amazônia”, diz o biólogo Roberto Waack, fellow da Chatam House e membro do conselho da Arapyaú.
“Infelizmente, há muito tempo não discutimos mais modelos de desenvolvimento. Entra e sai governo e isso não surge.”
A discussão em torno do desenvolvimento da Amazônia é um dos pilares da Concertação. “Outro é a necessidade de envolvimento do mainstream econômico”, segue Waack. Outro vértice é como melhorar a governança na Amazônia e aprimorar o ambiente institucional. “E não é possível discutir nada sem a visão de quem mora ali”, continua ele. “Todo o debate em torno da Amazônia é fragmentado. Tem a visão dos povos indígenas, dos ambientalistas, dos militares. A Concertação procura estabelecer estas sinapses”, explica.
Novos e detalhados estudos e análises vêm sendo apresentados a cada reunião, explica Renata Piazzon, gerente de mudança climática da Arapyaú. Há vários eixos de debate e estudos, da ciência a indicadores de saneamento, da análise de todos os planos que foram feitos para a região às expressões culturais. “Queremos ter uma síntese, uma compreensão mínima da realidade amazônica”, diz ela.
Na segunda-feira, durante a terceira reunião da Concertação, o arqueólogo Eduardo Neves, do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, trouxe parte de suas pesquisas sobre a biodiversidade da Amazônia. “É uma floresta natural, mas não só”.
Neves explicou que a estimativa é que existam 390 bilhões de árvores na Amazônia de 16 mil espécies. Mas 227 delas são dominantes, como o açaí do mato, seringueiras, cupuaçu. “Algumas plantas vem sendo consumidas há milhares de anos. Os povos indígenas foram construindo esta agrobiodiversidade”.
Guilherme Leal diz que o espírito da Concertação é de amplitude.
“Por enquanto é uma conversa entre pessoas preocupadas e interessadas. De ideias retrógradas ou avançadas, não interessa, temos que lidar com todas”, explica. “Tem que ter a visão das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, mas não apenas.
Tem este lado, mas tem o da Zona Franca de Manaus e por aí vai”, resume. “É a tentativa de promover um grande diálogo para construir caminhos de futuro de desenvolvimento para o Brasil, não apenas para a Amazônia. Que conciliem a potência ambiental com a agrícola. É uma visão multifacetada, pela dimensão amazônica.”
A Concertação vem conversando com setores governamentais, mas sem subordinação. “O que tem é um diálogo com governos e o reconhecimento de que o Estado tem um papel fundamental, principalmente na Amazônia”, diz.
Leal conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia Legal, antes da Concertação ter até nome. Há poucos dias, o general Mourão disse acreditar que o setor privado será protagonista do desenvolvimento sustentável na Amazônia. “Dizer que será ‘o’ protagonista é um pouco reducionista. Mas concordo plenamente e este é um dos princípios da Concertação. É preciso embarcar o business grande, o pequeno, o médio.
Os negócios têm que estar envolvidos com a construção de uma Amazônia diferente. O business tem que ser mais atraído e é isso que estamos tentando estimular”. Leal, contudo, diz que o Estado tem que estar presente, na construção de políticas públicas “mais saudáveis. Continua: “Assim como temos que ampliar a presença da Academia, com muitos centros de geração de conhecimento.”
Aflorou uma percepção de que existia um risco importante crescendo em relação à conservação da Amazônia” Guilherme Leal, sócio da Natura e fundador do Instituto Arapyaú
A construção da solução só poderá ser alcançada por um coletivo de organizações de múltiplas naturezas ” José Roberto Marinho (Grupo Globo), presidente do Instituto Humanize
É quase como se a sociedade brasileira estivesse absorvendo um pacto: ‘Vamos pensar juntos a Amazônia’ Ana Toni, diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade
Ambiente Aliança entre empresários e pesquisadores busca meios de desenvolver região sem derrubar floresta
quarta-feira, 26 de agosto de 2020
Valor Econômico / Especial
Daniela Chiaretti
Uma ampla aliança pela Amazônia está se formando entre donos e executivos de grandes empresas e bancos, pesquisadores, militares, economistas, políticos e ambientalistas. Batizada de Uma Concertação pela Amazônia, a iniciativa já reúne mais de 100 nomes interessados em entender a região, discutir como desenvolver seu potencial sem derrubar a floresta e melhorar a qualidade de vida da população. A intenção é construir pontes com o resto do país. Trata-se de mais um esforço do setor privado, da Academia e da sociedade civil de se organizar e debater diferentes visões para a Amazônia no vácuo deixado pelo poder público.
A iniciativa não é institucional e ainda não é propriamente um movimento, mas ganha força a cada reunião. Foi motivada por Guilherme Leal, sócio e co-fundador da Natura, uma das empresas pioneiras em negócios a partir da biodiversidade da floresta. Leal, que nasceu em Santos mas é filho de pai paraense, foi maturando a ideia antes ainda das queimadas de 2019, que produziram enorme reação mundial. “Não sei exatamente o que a motivou, talvez a radicalização das posições, mas aflorou claramente uma percepção de que existia um risco importante crescendo em relação à conservação da Amazônia”, diz.
Em fevereiro, alguns dos maiores empresários do país se reuniram em um almoço, em sua casa.
Ali se encontraram o presidente do Itaú Unibanco Cândido Bracher e a esposa Teresa Bracher, o sócio e presidente da Fundação SOS Mata Atlântica Pedro Passos, Roberto Klabin e outros. Amigos envolvidos com esta discussão e esforço também foram procurados, como José Roberto Marinho, presidente do Instituto Humanize. Iniciou-se a partir daí uma série de aproximações de lideranças e formadores de opinião que estão criando uma visão sobre o papel da Amazônia no mundo e no Brasil.
Há consenso de que a discussão sobre a Amazônia deve ter mais densidade na sociedade brasileira, que é preciso debater modelos de desenvolvimento para a região e que é necessário colocar o mundo empresarial a bordo.
“Eu não gosto de reinventar a roda e também não acredito que as grandes transformações e os desafios mais relevantes são enfrentados de maneira isolada”, diz Leal.
“Queria entender as muitas entradas, quem são os stakeholders relevantes neste cenário, quem pode implementar uma visão que una mais conservação e produção.”
Leal pediu ao seu time que mapeasse as iniciativas já existentes e que vem ganhando força nos últimos meses. São muitas e variadas.
Há o movimento dos CEOs que assinaram carta endereçada ao vicepresidente Hamilton Mourão, que conduz o Conselho Nacional da Amazônia Legal, redes de pesquisadores reconhecidos que estudam a floresta, as recomendações de ex-ministros da Fazenda e expresidentes do Banco Central, o consórcio de governadores da Amazônia, as manifestações de líderes religiosos, as iniciativas de fundações de filantropia.
Se todas as iniciativas ficassem abaixo de um grande guarda-chuva, o resultado seria uma espécie de Frente Ampla pela Amazônia. Leal não usa este nome, diz que o que há, por enquanto, é apenas uma conversa entre esta miríade de grupos e pessoas interessadas na região amazônica. Não é sequer um movimento, embora tenha este potencial. Fundador do Instituto Arapyaú, ele se refere à iniciativa conjugando verbos no plural.
“Não é minha, não tem dono”.
Candido Bracher havia voltado de Davos impressionado pela preocupação do mercado e das lideranças globais com a emergência climática. O banqueiro começou a ter mais proximidade com a temática ambiental através dos projetos de conservação no Pantanal conduzidos há 15 anos pela esposa Teresa Bracher. “Tenho a impressão que neste esforço temos que aliar forças e construir consensos sobre a forma de preservar.”
“Costumo dizer que precisamos transformar a Amazônia em uma questão de Estado, não de govern o”. Ele faz um paralelo entre o desafio colocado pela contenção do desmatamento da Amazônia e o controle da inflação, no passado.
“Aquilo era um flagelo e hoje não precisamos mais falar disso”, diz.
“Sonho com o dia em que nenhum candidato à presidência terá que dizer que irá reduzir o desmatamento na Amazônia ou criar mecanismos de comando e controle.”
Encontrar maneiras de ajudar os brasileiros mergulhados no drama da pandemia aproximou Bracher dos CEOs dos outros dois grandes bancos privados do país, Bradesco e Santander. Os três lançaram há um mês um plano para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia. O presidente do Itaú Unibanco é claro: “Precisamos inverter este círculo vicioso onde estamos. A impressão que passa para o mundo é de descaso.
Deste jeito, ninguém se anima a ajudar. Não se tem credibilidade se não conseguirmos reverter isso”.
José Roberto Marinho, presidente do Instituto Humanize, apoia e integra a movimentação em defesa da Amazônia olhando para as vocações locais e os ativos da sociobiodiversidade. “Investimos na região há mais de dez anos e reconhecemos que a construção da solução só poderá ser alcançada por um coletivo de organizações de múltiplas naturezas como o da Concertação pela Amazônia iniciada pelo Guilherme Leal via Instituto Arapyaú”.
“Acho que há um problema generalizado na abordagem da Amazônia, que é focar mais na questão ambiental”, diz Denis Benchimol Minev, diretor presidente da Bemol, uma rede de 24 lojas de departamento nos Estados da Amazônia Ocidental com 3.200 funcionários e sede em Manaus. Minev comanda um dos maiores negócios da região — a Bemol é o maior contribuinte de ICMS do Estado do Amazonas. “O desmatamento é o efeito colateral de um sistema muito ruim, que atrai maus empresários e expurga os bons”, diz.
Na visão de Minev, no curto prazo, a ação do Exército funciona para conter o desmatamento. “Mas isso é enxugar gelo. Melhora este ano, mas volta tudo no ano que vem. Para resolver, de verdade, é preciso criar uma economia próspera na região, na qual a floresta vale mais em pé do que derrubada.
É um bordão bonito, que todo mundo defende, mas não é verdade”. Minev, que foi secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Amazonas e estudou economia em Stanford, esclarece: “Para quem vive no interior da Amazônia, a floresta não vale mais em pé do que no chão”.
Ele se diz que a região não está preparada para “jogar o jogo dador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central. “Este é um assunto urgente.bioeconomia, que é um jogo de cérebros, e não apenas de recursos naturais”. Minev justifica com o orçamento anual do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA — R$ 50 milhões — e o da Universidade de Stanford — US$ 7 bilhões. “É 700 vezes maior”.
Com ele concorda o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que comandou a missão de paz no Haiti e também a missão de estabilização da ONU na República Democrática do Congo, e que participa da Concertação — o Exército é a instituição mais presente na Amazônia. “A Amazônia é assunto de atenção mundial”, diz, reforçando a dimensão da região. “Só o Estado do Pará dá três vezes a Alemanha, duas vezes a França. Estamos falando de uma área de dimensão enorme. E temos o que lá? Talvez 500 fiscais do Ibama? Isso não é nada”.
Santos Cruz sugere que o modelo de fiscalização adotado siga o sistema federativo. “Quem sabe o que acontece lá na cidadezinha é a Prefeitura. Tem que se levar em consideração isso, com tarefas da União junto com os órgãos estaduais e municipais”. Ele recomenda, por exemplo, que os Estados da Amazônia tenham uma Polícia Florestal especializada. “A estrutura tem que ser funcional.”
“Acho interessante a iniciativa na medida em que pode contribuir com ideias”, diz o general, ex-secretário de governo nos primeiros seis meses da presidência de Jair Bolsonaro. “O governo tem que estar aberto a ideias e abrir a discussão. Há vários grupos interessados em discutir a Amazônia. Tem que se aproveitar esta massa crítica”, observa.
“Vivemos um boom de interesse pela Amazônia, que identifico a partir do ano passado, com a chegada da nuvem negra naquela tarde de agosto de São Paulo”, diz a empresária e ambientalista Bia Saldanha, que vive no Acre há 12 anos. “Vivíamos esta situação sempre, com as queimadas, mas foi impactante quando o centro econômico da América do Sul sentiu isso fortemente”.
“As iniciativas que procuram discutir o desenvolvimento da região devem entender que Amazônia e Brasil não são coisas separadas”, recomenda Tatiana Schor, secretária-executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas. “O que acontece é que há muita gente de fora da região, pensando a região, e a Amazônia não é para amadores. A tendência é as pessoas terem expectativas que não se realizam no chão”.
“Há muitas iniciativas sobre a Amazônia, muitas redes de conversa. A Concertação não é única nem quer ser”, diz Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS). Ela traduz esta efervescência: “É quase como se a sociedade brasileira estivesse absorvendo um pacto de ‘vamos pensar a Amazônia juntos’”. Ana observa duas vertentes importantes neste movimento. “Uma, logicamente, é que o Brasil está falando sobre a Amazônia. Temos que dar visibilidade e fortalecer as vozes da Amazônia”, registra.
O segundo ponto é uma pergunta: “Quem pauta a Amazônia, politicamente? Infelizmente, nenhum outro político havia feito isso até a eleição de 2018. O único que trouxe a Amazônia para a pauta, infelizmente, foi Jair Bolsonaro”. Para Ana, é preciso que futuros candidatos às Prefeituras, governos estaduais e à Presidência coloquem suas visões sobre desenvolvimento e proteção da floresta. “Tem que estar na pauta eleitoral, para que possamos cobrar depois”.
“O Brasil está acordando. A postura das lideranças empresariais nesta área é um sinal claro de que há uma mudança”, diz o economista Arminio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central. “Este é um assunto urgente. O Brasil já passou o limite de risco de desmatamento. Temos que ter soluções pragmáticas que permitam reflorestamento”, diz ele. Fraga diz que “desmatamento zero, não é suficiente, na minha leitura”
Marina Grossi, presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Cebds), entidade que reúne 60 das maiores companhias no Brasil, define a Concertação como “um hub de diversas iniciativas sobre a Amazônia”. Ela diz que uma característica interessante da iniciativa é que ela “faz pontes entre o que já existe e o que pode existir, com várias e diversas sinapses”.
Para Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), o que há de mais interessante na iniciativa “é estar olhando para a Amazônia como um todo”. Brito e Marina foram articuladores do Movimento dos CEOs. “Para fazer o desenvolvimento da Amazônia tem que olhar para todos os setores inseridos no processo — mineração, agro, serviços. Todos esses acabam tendo influência nos aspectos positivos ou negativos da Amazônia.”
Brito, que viveu muitos anos na região, acredita que também é preciso lembrar que, “na Amazônia, entre o legal e o ilegal há o informal. Que não é legal por falta de estrutura para se legalizar”.
“Acho que falta ao Brasil, de fato, um projeto para a Amazônia”, diz Wilson Brumer, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e que presidiu a Vale entre 1990 e 1992, quando a empresa era estatal. “Reflorestar áreas degradadas não pode ser uma forma de geração de renda e desenvolvimento?”, questiona.
O mosaico de personalidades que vem se juntando à iniciativa é amplo e diverso. Estão lá ex-ministros de Meio Ambiente como Izabella Teixeira e José Carlos Carvalho, o ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente Francisco Gaetani, o ex-governador do Pará Simão Jatene, o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, o economista Juliano Assunção, da PUC/RJ, cientistas como Carlos Nobre e Raoni Rajão, pesquisadores como Adalberto Veríssimo (Imazon), Tasso Azevedo (MapBiomas) e André Guimarães (Ipam), representants de organizações socioambientais como Rachel Biederman (WRI Brasil), Mauricio Voivodic (WWF) e Ilona Szabo (Igarapé). Empresários como Marcos Molina (Marfrig), Pedro Paulo Diniz, executivos como Márcio Nappo (JBS) e Philippe Prufer (ex presidente da Eli Lilly), além de, Fernando Fleck (Fundação Moore), Johannes van de Ven (Good Energies) e muitos outros.
“Para avançarmos com desenvolvimento sustentável baseado em baixas emissões, economia verde com floresta em pé, redução efetiva do desmatamento e ordenamento territorial é preciso uma orquestração de várias esferas da sociedade”, diz Cira Moura, secretária-executiva do consórcio de governadores da Amazônia. “Para superar os desafios é preciso várias mãos, vários atores”, continua. Mas ela alerta: “Eu queria destacar que todos conhecemos os desafios, que já estão claramente identificados.
Temos que partir para uma ação efetiva, que gere entregas efetivas para a sociedade”.
Já ocorreram três reuniões da Concertação, que a cada edição reúne mais gente. “Partimos de discussões fundamentais. Como o que é desenvolvimento para a Amazônia”, diz o biólogo Roberto Waack, fellow da Chatam House e membro do conselho da Arapyaú.
“Infelizmente, há muito tempo não discutimos mais modelos de desenvolvimento. Entra e sai governo e isso não surge.”
A discussão em torno do desenvolvimento da Amazônia é um dos pilares da Concertação. “Outro é a necessidade de envolvimento do mainstream econômico”, segue Waack. Outro vértice é como melhorar a governança na Amazônia e aprimorar o ambiente institucional. “E não é possível discutir nada sem a visão de quem mora ali”, continua ele. “Todo o debate em torno da Amazônia é fragmentado. Tem a visão dos povos indígenas, dos ambientalistas, dos militares. A Concertação procura estabelecer estas sinapses”, explica.
Novos e detalhados estudos e análises vêm sendo apresentados a cada reunião, explica Renata Piazzon, gerente de mudança climática da Arapyaú. Há vários eixos de debate e estudos, da ciência a indicadores de saneamento, da análise de todos os planos que foram feitos para a região às expressões culturais. “Queremos ter uma síntese, uma compreensão mínima da realidade amazônica”, diz ela.
Na segunda-feira, durante a terceira reunião da Concertação, o arqueólogo Eduardo Neves, do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo, trouxe parte de suas pesquisas sobre a biodiversidade da Amazônia. “É uma floresta natural, mas não só”.
Neves explicou que a estimativa é que existam 390 bilhões de árvores na Amazônia de 16 mil espécies. Mas 227 delas são dominantes, como o açaí do mato, seringueiras, cupuaçu. “Algumas plantas vem sendo consumidas há milhares de anos. Os povos indígenas foram construindo esta agrobiodiversidade”.
Guilherme Leal diz que o espírito da Concertação é de amplitude.
“Por enquanto é uma conversa entre pessoas preocupadas e interessadas. De ideias retrógradas ou avançadas, não interessa, temos que lidar com todas”, explica. “Tem que ter a visão das comunidades quilombolas, dos ribeirinhos, dos povos indígenas, mas não apenas.
Tem este lado, mas tem o da Zona Franca de Manaus e por aí vai”, resume. “É a tentativa de promover um grande diálogo para construir caminhos de futuro de desenvolvimento para o Brasil, não apenas para a Amazônia. Que conciliem a potência ambiental com a agrícola. É uma visão multifacetada, pela dimensão amazônica.”
A Concertação vem conversando com setores governamentais, mas sem subordinação. “O que tem é um diálogo com governos e o reconhecimento de que o Estado tem um papel fundamental, principalmente na Amazônia”, diz.
Leal conversou com o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia Legal, antes da Concertação ter até nome. Há poucos dias, o general Mourão disse acreditar que o setor privado será protagonista do desenvolvimento sustentável na Amazônia. “Dizer que será ‘o’ protagonista é um pouco reducionista. Mas concordo plenamente e este é um dos princípios da Concertação. É preciso embarcar o business grande, o pequeno, o médio.
Os negócios têm que estar envolvidos com a construção de uma Amazônia diferente. O business tem que ser mais atraído e é isso que estamos tentando estimular”. Leal, contudo, diz que o Estado tem que estar presente, na construção de políticas públicas “mais saudáveis. Continua: “Assim como temos que ampliar a presença da Academia, com muitos centros de geração de conhecimento.”
Aflorou uma percepção de que existia um risco importante crescendo em relação à conservação da Amazônia” Guilherme Leal, sócio da Natura e fundador do Instituto Arapyaú
A construção da solução só poderá ser alcançada por um coletivo de organizações de múltiplas naturezas ” José Roberto Marinho (Grupo Globo), presidente do Instituto Humanize
É quase como se a sociedade brasileira estivesse absorvendo um pacto: ‘Vamos pensar juntos a Amazônia’ Ana Toni, diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade
terça-feira, 25 de agosto de 2020
‘Forward guidance’ é tão eficaz quanto juro(Valor, 25 8 2020)
‘Forward guidance’ é tão eficaz quanto juro, diz estudo do BC
terça-feira, 25 de agosto de 2020
Valor Econômico / Finanças
Alex Ribeiro
O uso da comunicação pelos Bancos Centrais — o chamado “forward guidance” — é tão eficaz para atingir os seus objetivos para estimular a economia e levar a inflação para a meta quanto a ferramenta tradicional da taxa de juros de curto prazo.
É o que mostra um trabalho para discussão do Banco Central, elaborado pelo economista Leonardo Nogueira Ferreira. Embora contenha a ressalva de que o texto não expressa, necessariamente, a visão do BC, o estudo vem a público num momento em que a autoridade monetária começa a usar o forward guidance como instrumento auxiliar de política monetária.
Já havia uma extensa pesquisa acadêmica que mostra que a comunicação de política monetária dos bancos centrais é capaz de influenciar a curva de juros futuros. Ferreira dá um passo além, verificando o quanto mudanças na curva de juros futuros afetam variáveis macroeconômicas.
Sua constatação, com base em dados dos EUA, é que, se um forward guidance levar a uma mudança de 0,08 ponto percentual na curva de juros futuros para o prazo de dois anos, a produção industrial será afetada, em média, em mais de 0,2 ponto percentual. Testes adicionais feitos pelo economista compararam o efeito do forward guidance com os tradicionais movimentos de taxa de juros feitos pelos BCs.
“Os resultados mostram que os efeitos do forward guidance podem ser pelo menos tão fortes quanto os efeitos da política monetária convencional”, afirma Ferreira, no estudo “Forward Guidance Matters: Disentangling Monetary Policy Shocks” (numa tradução livre, Orientação Futura Importa: Separando Choques de Política Monetária).
Em reunião no começo do mês, o Banco Central fez uso pela primeira vez, na gestão Roberto Campos Neto, de um forward guidance. O BC cortou os juros em 0,25 ponto percentual, para 2% ao ano, e concluiu que era necessário mais estímulos para levar a inflação para as metas. Por isso, anunciou que não subirá os juros, e poderá baixá-los, enquanto as projeções de inflação do BC e as expectativas de mercado não se aproximarem das metas.
Quando um banco central utiliza um forward guidance, ele está usando a comunicação para influenciar a curva de juros futuros — que, por sua vez, influencia decisões de consumo e investimento. No dia seguinte ao anúncio do forward guidance, os contratos de juros DI com vencimento em 2022 caíram de 2,77% pra 2,6%. Mas, nos dias seguintes, voltaram a subir, devido a riscos fiscais.
Embora a intuição sobre o forward guidance pareça algo simples, medir o efeito de um forward guidance é considerado um grande desafio entre os especialistas. A metodologia usada por Ferreira utiliza as surpresas nos preços de contratos futuros ao redor do anúncio do comitê de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano). Ele usa uma janela de tempo pequena para separar o efeito do comunicado do Fed nas expectativas de taxas de juros das demais coisas acontecendo na economia — como uma estatística ou informação nova — que também afetam as expectativas de taxas de juros.
terça-feira, 25 de agosto de 2020
Valor Econômico / Finanças
Alex Ribeiro
O uso da comunicação pelos Bancos Centrais — o chamado “forward guidance” — é tão eficaz para atingir os seus objetivos para estimular a economia e levar a inflação para a meta quanto a ferramenta tradicional da taxa de juros de curto prazo.
É o que mostra um trabalho para discussão do Banco Central, elaborado pelo economista Leonardo Nogueira Ferreira. Embora contenha a ressalva de que o texto não expressa, necessariamente, a visão do BC, o estudo vem a público num momento em que a autoridade monetária começa a usar o forward guidance como instrumento auxiliar de política monetária.
Já havia uma extensa pesquisa acadêmica que mostra que a comunicação de política monetária dos bancos centrais é capaz de influenciar a curva de juros futuros. Ferreira dá um passo além, verificando o quanto mudanças na curva de juros futuros afetam variáveis macroeconômicas.
Sua constatação, com base em dados dos EUA, é que, se um forward guidance levar a uma mudança de 0,08 ponto percentual na curva de juros futuros para o prazo de dois anos, a produção industrial será afetada, em média, em mais de 0,2 ponto percentual. Testes adicionais feitos pelo economista compararam o efeito do forward guidance com os tradicionais movimentos de taxa de juros feitos pelos BCs.
“Os resultados mostram que os efeitos do forward guidance podem ser pelo menos tão fortes quanto os efeitos da política monetária convencional”, afirma Ferreira, no estudo “Forward Guidance Matters: Disentangling Monetary Policy Shocks” (numa tradução livre, Orientação Futura Importa: Separando Choques de Política Monetária).
Em reunião no começo do mês, o Banco Central fez uso pela primeira vez, na gestão Roberto Campos Neto, de um forward guidance. O BC cortou os juros em 0,25 ponto percentual, para 2% ao ano, e concluiu que era necessário mais estímulos para levar a inflação para as metas. Por isso, anunciou que não subirá os juros, e poderá baixá-los, enquanto as projeções de inflação do BC e as expectativas de mercado não se aproximarem das metas.
Quando um banco central utiliza um forward guidance, ele está usando a comunicação para influenciar a curva de juros futuros — que, por sua vez, influencia decisões de consumo e investimento. No dia seguinte ao anúncio do forward guidance, os contratos de juros DI com vencimento em 2022 caíram de 2,77% pra 2,6%. Mas, nos dias seguintes, voltaram a subir, devido a riscos fiscais.
Embora a intuição sobre o forward guidance pareça algo simples, medir o efeito de um forward guidance é considerado um grande desafio entre os especialistas. A metodologia usada por Ferreira utiliza as surpresas nos preços de contratos futuros ao redor do anúncio do comitê de política monetária do Fed (Federal Reserve, o banco central americano). Ele usa uma janela de tempo pequena para separar o efeito do comunicado do Fed nas expectativas de taxas de juros das demais coisas acontecendo na economia — como uma estatística ou informação nova — que também afetam as expectativas de taxas de juros.
Morte anunciada(Ana Carla Abrão, Economia, Estado, 25 8 2020)
ANA CARLA ABRÃO - Morte anunciada
terça-feira, 25 de agosto de 2020
O Estado de S. Paulo / Economia
O Tesouro Nacional divulgou dados fechados de 2019. Nenhuma o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais com os surpresa. O excelente e extenso trabalho dá um alento ao iniciar o relatório com uma notícia positiva, um resultado primário melhor no geral. Mas a alegria dura pouco pois basta olhar no detalhe as linhas de receitas e despesas para entender que os problemas continuam todos lá. E continuarão piorando caso não se mude a rota que vimos trilhando há anos.
Pelo lado da receita primária dos Estados chama a atenção o aumento de 7,6% na arrecadação de 2019 em relação a 2018, principalmente se comparado ao crescimento de 4% nas despesas. Em parte fruto de uma tímida recuperação econômica, em outra parte graças à maior eficiência na arrecadação - onde atuam em conjunto algumas reduções nos benefícios fiscais e um combate mais firme à sonegação.
Mas há que se reconhecer também a ajuda da União que fez crescer as transferências para os entes federados em 7,7%. Foi esse significativo ganho real nas linhas de receita que garantiu a melhora do resultado primário.
As notícias positivas param aí. Os Estados continuaram, conforme esperado na ausência de uma reforma administrativa ampla, na sua trajetória crescente de gastos com a folha de pessoal que, juntamente com o crescimento de outras despesas correntes, aprofundou a tendência negativa das despesas com investimentos. Nos últimos 9 anos o crescimento médio real na despesa bruta de pessoal foi de 10,87%. Em 2019 o crescimento nominal foi de 5,1%, mantendo a tendência de aumento real. Considerando que foram poucos os Estados que concederam aumentos salariais no ano passado, o crescimento é majoritariamente explicado pelos dispositivos de promoções e progressões automáticas e incorporações de gratificações, anuênios, quinquênios, sextas partes, etc, abundantes nas diversas leis de carreiras estaduais. Chega-se assim a uma participação de 55% da despesa de pessoal na despesa total desses entes. Se olharmos um pouquinho mais atentamente, incorporando na conta os penduricalhos que alguns olhos turvos dos órgãos de controle teimam em acreditar serem gastos com custeio, chegamos próximos aos 70%. Número que continuará aumentando, apesar da proibição de aumentos salariais, mas graças ao veto parcial do presidente Bolsonaro e que passaria desapercebido não fosse o alerta de Daniel Duque, do Centro de Liderança Pública - CLP, publicado ontem pelo Valor Econômico.
A combinação desse movimento crescente e contínuo de gastos de pessoal com uma renúncia fiscal que atinge em média 16,8% do total arrecadado com o ICMS nos Estados - dos quais 65% concedidos por tempo indeterminado - expõe o óbvio: a variável de ajuste nos Estados continua sendo o investimento público, sacrificando a população e promovendo a deterioração da infraestrutura Brasil a fora. Afinal, a contrapartida nessa contabilidade perversa foi a redução de 24,7% dos investimentos em relação à receita corrente líquida, consolidando ausência de capacidade financeira dos Estados e sua dependência de fontes externas. Estas, por sua vez, seriam uma solução alternativa se houvesse capacidade de endividamento, o que não é o caso para a maior parte deles.
Finalmente, o Boletim traz para reflexão alguns números interessantes (senão absurdos). Os Estados atualmente mantêm 263 empresas estatais, das quais 43% estão declaradas como dependentes. Ou seja, conforme definido em Resolução do Senado Federal, há 114 que em 2019 "receberam recursos do seu controlador destinados ao pagamento de despesas com pessoal, de custeio em geral ou de capital, excluídos, neste último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária, e tenha, no exercício corrente, autorização orçamentária para recebimento de recursos financeiros com idêntica finalidade". Essas empresas consumiram liquidamente R$ 4,8 bilhões de reais em 2019, teoricamente - considerando o que determina a Constituição Federal - exercendo atividades que atendam "aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei". Será mesmo?
A publicação do Tesouro Nacional é um compêndio que se lido com a mesma atenção com que foi elaborado nos apresenta o problema, mas também as soluções. Nas entrelinhas estão implícitas aquelas que são as únicas ações capazes de evitar o colapso fiscal dos entes subnacionais: uma reforma administrativa que reconstrua as relações entre servidores e Estado e garanta melhora dos serviços públicos e redução das despesas de pessoal; uma reforma tributária ampla, que elimine as diversas distorções de um sistema regressivo e traga ganhos de eficiência econômica; um programa de privatizações que permita que o Estado brasileiro - em todos os seus níveis - esteja focado em prover serviços melhores e uma rede de proteção social eficaz. Os números de 2020 estarão confusos em função da pandemia, mas os problemas voltarão com ainda mais força em 2021 evidenciando os governadores que entenderam a mensagem - e já estão agindo - e aqueles que não. Até porque, qualquer caminho que não seja esse nos manterá na rota do colapso. E, como Santiago Nasar de Gabriel García Marques, cuja morte foi premeditada e tão amplamente anunciada, a morte dos Estados não será evitada.
OLHO: Os Estados continuaram na sua trajetória crescente de gastos com a folha de pessoal
segunda-feira, 24 de agosto de 2020
Português, a língua do P
O PORTUGUÊS É O ÚNICO IDIOMA EM QUE SE PODE ESCREVER UM TEXTO SÓ COM A LETRA P.
PODEMOS PARTIR?
Pedro Paulo Pereira Pinto, pequeno pintor português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para pessoas pobres. Porém, pouco praticou, porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou pratos para poder pagar promessas.
.
Pálido, porém perseverante, preferiu partir para Portugal para pedir permissão para papai para permanecer praticando pinturas, preferindo, portanto, Paris. Partindo para Paris, passou pelos Pirineus, pois pretendia pintá-los. Pareciam plácidos, porém, pesaroso, percebeu penhascos pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitar-se principalmente pelo Pico, porque pastores passavam pelas picadas para pedirem pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo passo percorriam, permanentemente, possantes potrancas. Pisando Paris, pediu permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos, pois, para pintar pobreza, precisaria percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniciosos, preferindo Pedro Paulo precaver-se. Profundas privações passou Pedro Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, porém, pretas previsões passavam pelo pensamento, provocando profundos pesares, principalmente por pretender partir prontamente para Portugal. Povo previdente! Pensava Pedro Paulo… "Preciso partir para Portugal porque pedem para prestigiar patrícios, pintando principais portos portugueses".
.
Passando pela principal praça parisiense, partindo para Portugal, pediu para pintar pequenos pássaros pretos. Pintou, prostrou perante políticos, populares, pobres, pedintes. - "Paris! Paris!" Proferiu Pedro Paulo. -"Parto, porém penso pintá-la permanentemente, pois pretendo progredir".
Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém, Papai Procópio partira para Província. Pedindo provisões, partiu prontamente, pois precisava pedir permissão para Papai Procópio para prosseguir praticando pinturas. Profundamente pálido, perfez percurso percorrido pelo pai. Pedindo permissão, penetrou pelo portão principal. Porém, Papai Procópio puxando-o pelo pescoço proferiu: -Pediste permissão para praticar pintura, porém, praticando, pintas pior. Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia. Porque pintas porcarias? -Papai, proferiu Pedro Paulo, pinto porque permitiste, porém preferindo, poderei procurar profissão própria para poder provar perseverança, pois pretendo permanecer por Portugal. Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos pertences, partiu prontamente, pois pretendia pôr Pedro Paulo para praticar profissão perfeita: pedreiro! Passando pela ponte precisaram pescar para poderem prosseguir peregrinando. Primeiro, pegaram peixes pequenos, porém, passando pouco prazo, pegaram pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima, pois pretendiam pernoitar pertinho, para procurar primo Péricles primeiro.
Podem Partilhar!
Quais os riscos de aplicar em cooperativa de crédito?(Valor, 24 8 2020)
Quais os riscos de aplicar em cooperativa de crédito?
segunda-feira, 24 de agosto de 2020
Valor Econômico / Valor Investe
Hugo Ferraz
Com essa crise, gostaria de saber se corro risco aplicando dinheiro em uma cooperativa de crédito. Hugo Ferraz, CFP, responde:
Prezado leitor, Antes de responder sua pergunta, pensando em quem ainda não conhece uma cooperativa de crédito, o melhor é explicar o que é esse tipo de instituição.
Uma cooperativa de crédito, assim como um banco comercial, é uma instituição que pratica a intermediação financeira, captando depósitos e oferecendo linhas de crédito. Além disso, oferece produtos e serviços: consórcios, seguros, cartões, fundos de investimento, boletos e conta corrente, entre outros.
Por serem classificadas como instituições financeiras, as cooperativas são supervisionadas pelo Banco Central e seguem as mesmas normas que os bancos comerciais. Todas as exigências que um banco deve cumprir para mitigar seus riscos, normatizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), também se aplicam às cooperativas de crédito, trazendo segurança para seus clientes.
Além disso, as cooperativas possuem a garantia de um fundo, o FGCoop, que é similar ao FGC (Fundo Garantidor de Crédito), que garante os depósitos de seus clientes. O valor máximo de garantia é de R$ 250 mil, somados todos os créditos de cada credor identificado pelo CPF ou CNPJ na mesma instituição associada.
Caso você tenha mais que R$ 250 mil aplicados, é muito importante analisar o risco de sua instituição. A maioria das grandes cooperativas possui rating atribuído por agências internacionais como Fitch, S&P Global e Moody ’s. Se não possuir, existe outra forma de analisar sua saúde financeira. As cooperativas disponibilizam aos associados os demonstrativos financeiros mensalmente e todo ano realizam assembleias para a apresentação e aprovação de suas contas.
Até agora falamos pela ótica do cliente. Mas é preciso mencionar que, do ponto de vista societário, existe uma diferença entre o banco e a cooperativa.
Ao abrir a conta num banco, você se torna cliente e passa a utilizar seus produtos e serviços, não tendo nenhum vínculo societário com ele. Caso queira ser sócio de um banco, deve fazer isso comprando ações (mercado de renda variável) e assim adquire direito a receber dividendos e ganhos (ou perdas) na comercialização dessas ações.
Já em uma cooperativa de crédito, de acordo com a legislação brasileira, para se ter uma conta necessariamente é preciso se tornar sócio dela. Como em qualquer empresa, quando você se torna sócio tem que aportar um capital social cujo valor varia de cooperativa para cooperativa, sendo em média de R$ 20 o valor inicial. Como sócio você passa a fazer jus ao resultado apurado.
Se uma cooperativa encerra o ano com lucro, ou sobras, como são chamadas, esse valor retorna aos seus associados de forma proporcional ao que cada um movimentou no decorrer do ano. Quanto mais se movimenta numa cooperativa, mais retorno dessas sobras se recebe. Agora, se ela encerra o ano com prejuízo, este também é dividido entre os associados.
Esse assunto gera muita dúvida e medo. Porém, existem alguns mecanismos que evitam que o associado arque com esses prejuízos. Toda cooperativa possui em seu patrimônio líquido o chamado “fundo de reserva”, que por força de lei é formado por meio da retenção de, pelo menos, 10% do lucro de cada ano. Esse fundo é criado e mantido para cobrir eventuais prejuízos. Não havendo fundo de reserva suficiente, existem alternativas. Uma delas, advinda da lei complementar 130 de 2009, é a possibilidade de o prejuízo ocorrido em um ano ser compensado por lucros de exercícios seguintes, favorecendo os associados por não precisarem arcar com esse prejuízo. Além disso, caso uma cooperativa obtenha prejuízos acima de seu fundo de reserva e perceba sua inviabilidade, pode haver incorporações, como nos bancos, quando uma cooperativa maior (e com melhor situação financeira) assume os ativos e passivos dessa cooperativa e seus associados não sofrem prejuízo.
Então, respondendo sua pergunta, o risco de se aplicar numa cooperativa de crédito é o mesmo de se aplicar em um banco comercial.
Hugo Ferraz é planejador financeiro pessoal e possui a certificação CFP (Certified Financial Planner), concedida pela Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros E-mail: hugoaferraz@hotmail.com.
domingo, 23 de agosto de 2020
Não culpem só a pandemia. O Brasil já ia muito mal(Estado, 23 8 2020)
Não culpem só a pandemia. O Brasil já ia muito mal
domingo, 23 de agosto de 2020 - 04:02
O Estado de S. Paulo / Espaço Aberto
Rolf Kuntz
A pandemia forçou o governo a cuidar da economia real e até dos pobres, mas falta um plano para consolidar a retomada, combiná-la com o conserto das contas públicas e, sobretudo, reconduzir o País ao desenvolvimento. Falta um governo do tipo necessário a um país emergente. O Brasil já ia muito mal antes do novo coronavírus. Com o desastre ocasionado pela covid-19, muita gente parece haver esquecido aquele quadro sombrio. O desafio imediato é sair do buraco e retomar as condições anteriores ao grande tombo. Mas o problema real é muito maior e qualquer discussão séria - sem populismo e sem jogadas eleitorais - tem de partir desse ponto. Para onde rumava o País antes da tragédia de 2020?
Sinais vitais do comércio e da indústria têm melhorado, mas em junho a produção industrial continuou abaixo do nível de fevereiro. Se tivesse voltado àquele nível, ainda estaria 16,6% abaixo do pico alcançado em maio de 2011. A partir desse topo o declínio da indústria, até a recessão de 2015-2016, é bem visível nas séries do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve alguma reação em 2017 e 2018, mas o impulso acabou no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro.
Depois de três anos de queda, a produção da indústria avançou 2,5% em 2017 e 1% em 2018, mas declinou 1,1% em 2019. Bolsonaro e equipe tiveram uma estreia desastrosa - mesmo sem contar a vergonha diplomática e o vexame da política ambiental. O produto interno bruto (PIB) cresceu 1,1% - menos que em cada um dos dois anos anteriores e o desemprego permaneceu na faixa de 12% a 13%. De novembro a fevereiro, antes, portanto, da nova crise, a produção industrial foi sempre menor que no mês correspondente do ano anterior.
Com a pandemia, a partir de março ficou menos visível a diferença entre os novos desafios econômicos e os velhos problemas estruturais, exceto pelos detalhes mais chocantes. Quando foi preciso pensar em prevenção, isolamento, contenção do contágio e, enfim, socorro aos mais vulneráveis, mais luz foi lançada sobre a pobreza extrema e as condições de saneamento e de habitação de milhões de famílias. Dados abstratos, como o coeficiente de Gini, transformaram-se de repente em cenas assustadoras ao vivo e em cores.
A desigualdade passou de mero indicador a fato escancarado. A realidade confirmou a advertência do Fundo Monetário Internacional (FMI): para executar as políticas emergenciais os governos latino-americanos precisariam chegar a segmentos sociais ainda intocados pelas políticas públicas. A experiência brasileira comprovou de forma chocante essa previsão.
Mas nem seria preciso chegar às cenas de pobreza extrema para perceber o enorme desafio. Bem antes da pandemia e da recessão no primeiro semestre de 2020, o desenvolvimento brasileiro havia sido travado. A baixa qualidade do emprego, a informalidade e os níveis escandalosos de pobreza eram os sinais mais claros da interrupção de um longo processo.
Tinha havido alguma redução da desigualdade nas últimas décadas e crescente inclusão, embora os indicadores sociais continuassem ruins. A crise da indústria, visível antes da recessão de 2015-2016, realçou problemas cada vez mais graves: baixa produtividade, formação deficiente de capital humano, pouca inovação, ampla predominância dos segmentos de baixa tecnologia e escassa competitividade.
Protecionismo excessivo e insuficiente participação nas cadeias globais foram facilmente identificados, há anos, como entraves importantes. Burocracia, insegurança jurídica, tributação disfuncional e financiamento escasso também têm sido apontados, há muito tempo, como obstáculos à eficiência e à competitividade.
No mesmo período o agronegócio brasileiro se consolidou como potência mundial. A trajetória começou há décadas. Foi essencial a ação do setor público, por meio do trabalho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e de sua cooperação com outras instituições. Também houve boas estratégias de financiamento, de logística, de zoneamento e de difusão de tecnologia. Com eficiência, em 30 anos a produção cresceu muito mais que a área ocupada. Poupando terras, o agronegócio tem garantido a segurança externa da economia brasileira.
Por que a agropecuária cresceu e ocupou espaços no mercado global, enquanto a indústria, com exceção de alguns segmentos e grupos empresariais, emperrou e até regrediu? Como programar a retomada industrial? Como ordenar as ações? Essas perguntas poderiam abrir um reexame do crescimento, da modernização e das funções das políticas públicas.
É inútil propor esse tipo de assunto ao presidente Bolsonaro. Ele repassará a questão ao seu "posto Ipiranga", o ministro da Economia. Mas será uma surpresa se ele responder com algo diferente de seu discurso habitual. Aprovada a reforma da Previdência, ele se concentrou em duas missões, aparentemente essenciais, em sua opinião, para a prosperidade brasileira: eliminar os encargos da folha salarial e recriar com nova cara a CPMF. Para que complicar a conversa?
OLHO: A crise industrial começou no País bem antes de chegar a covid-19
Assinar:
Postagens (Atom)