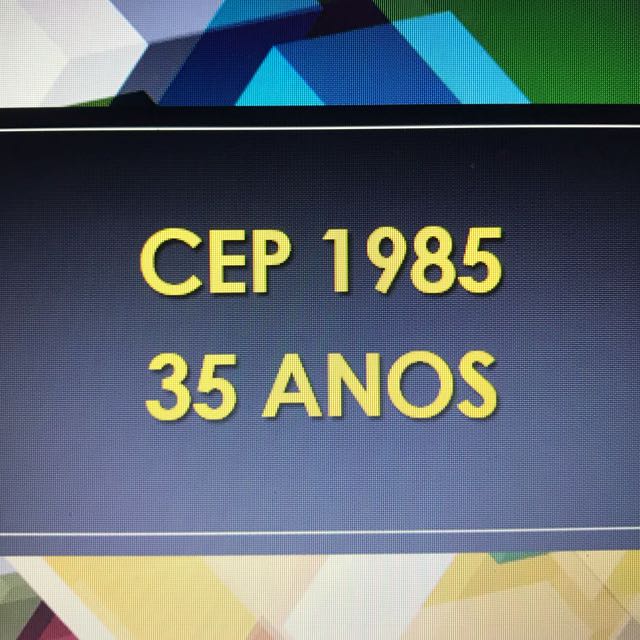É positivo o decreto do governo que possibilita separar alunos com deficiência em escolas especiais?
sábado, 24 de outubro de 2020
Folha de S. Paulo / Opinião
Não Retrocesso de décadas
Segregar é ignorar potenciais e limitar o desenvolvimento como ser humano
José de Araújo Neto Psicólogo, é fundador e presidente da AME (Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais), entidade que há 30 anos realiza ações e projetos voltados à inclusão social
O decreto 10.502, publicado pelo governo federal no final de setembro, foi uma covardia e uma grande injustiça cometida contra as pessoas com deficiência no Brasil.
Construído na surdina e sob a influência de interesses estranhos aos anseios dessa população, o documento representa um escandaloso retrocesso frente aos esforços de inclusão empreendidos por diferentes atores ao longo dos últimos anos. Com o objetivo de instituir uma nova Política Nacional de Educação Especial, o decreto resgata visões e práticas ultrapassadas que desrespeitam os direitos humanos e são flagrantemente inconstitucionais. Em vez de estimular a inclusão das pessoas com deficiência, a adoção dos princípios contidos no texto vai ampliar a exclusão e o preconceito sofridos diariamente por elas.
Da forma como foi assinado, o decreto 10.502 se contrapõe às políticas inclusivas inscritas na Constituição de 1988, que assegura a todos os brasileiros o direito universal à educação, sem distinção de qualquer natureza. Além do texto constitucional, o documento viola também a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada no âmbito das Nações Unidas em 2007 e transformada em lei no Brasil por meio do decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009.
Como se não bastasse, anova abordagem sugerida contraria todos os consensos pedagógicos e científicos a respeito da educação das pessoas com deficiência. Nos últimos anos, a sociedade global evoluiu muito no entendimento dessa questão, e hoje podemos afirmar com segurança que a educação de crianças e adultos com qualquer deficiência, seja física ou intelectual, deve acontecer nas escolas regulares e nas mesmas classes dos demais alunos.
Sob o falso argumento da "liberdade de escolha", os que se dizem favoráveis ao decreto parecem ignorar o histórico de discriminação e segregação que temos combatido por décadas. Impermeáveis aos argumentos amparados por fatos, dados e evidências, eles esquecem dos tempos em que havia resistência das escolas para aceitar alunos com deficiência. Graças à mobilização social, à pressão dos especialistas e ao reconhecimento das autoridades, traduzido em leis e regulamentações, essas barreiras vêm sendo progressivamente quebradas, com resultados positivos não apenas para as pessoas com deficiência, mas também para suas famílias, suas escolas, seus colegas e o conjunto da sociedade.
Hoje, perto de 90% dos estudantes com deficiência ou transtornos de desenvolvimento estudam em escolas regulares. Esse índice só pôde ser alcançado a partir da adoção de políticas públicas inclusivas nas redes de ensino comum. Chega a ser desumano propor tamanho retrocesso em uma área em que, apesar dos percalços, temos sido muito bem-sucedidos.
Ultimamente temos visto inúmeras iniciativas destinadas a valorizar a diversidade e a representatividade de minorias nas empresas. Ora, promover a inclusão das pessoas com deficiência faz parte desse mesmo processo. Sabemos que a jornada é longa, trabalhosa e requer esforços de todos. Por isso mesmo é inadmissível retroceder.
Segregar a pessoa com deficiência em escolas ditas especiais é ignorar o seu potencial, limitando o seu desenvolvimento como ser humano. A experiência recente é enriquecedora e tem contribuído para equiparar as oportunidades de acesso a uma educação de qualidade. Impedir que eles exerçam, na plenitude, seu direito à educação não é só errado: é cruel e desonesto.
Sob o falso argumento da "liberdade de escolha", os que se dizem favoráveis ao decreto parecem ignorar o histórico de discriminação e segregação que temos combatido por décadas. (...) Essas barreiras vêm sendo progressivamente quebradas, com resultados positivos não apenas para as pessoas com deficiência, mas também para suas famílias, suas escolas, seus colegas e o conjunto da sociedade
Sim Direito educacional
Falta de classes específicas marcou evasão escolar da comunidade surda
Patrícia Rezende Doutora em Educação pela UFSC, é professora associada do curso de pedagogia no Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) e ativista surda pelas Escolas Bilíngues de Surdos; autora de 'Implante Coclear: normalização e resistência surda' (ed. CRV)
Qual o lugar de fala de quem responde "sim" à questão proposta? Sou professora, doutora em educação, uma das lideranças surdas de uma minoria linguística de nosso país. Um resgate histórico do que os surdos vivenciaram ao longo da última década explica o nosso "sim".
Na realização da Conae 2010 (Conferência Nacional de Educação), os seis delegados surdos, em um universo de mais de 3.000 delegados ouvintes, foram vaiados e tachados de segregadores quando apresentaram a proposta para que as escolas bilíngues de surdos fossem mantidas.
Esse não foi um episódio isolado. Sentimos o impacto das decisões unilaterais dos então dirigentes do MEC quando ameaçaram fechar o Ines (Instituto Nacional de Educação de Surdos), em 2011. Só não foi fechado porque o movimento surdo, no mesmo ano, marchou para Brasília em manifestação histórica. No Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência), protestamos contra a ameaça de fechamento do Ines e de várias escolas de surdos pelo Brasil afora.
Durante a tramitação do Plano Nacional de Educação (PNE), a comunidade surda pediu o apoio a diversos parlamentares para a inclusão de escolas e classes bilíngues de surdos no PNE. Sofremos boicotes e lobbies por parte dos inclusivistas e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi/MEC).
Participamos de várias audiências públicas sobre o PNE. Paralelamente, em todos os estados e no DF, entregamos ao Ministério Público Federal uma carta-denúncia contra a então Secadi por ter promovido uma evasão escolar recorde dos alunos surdos, com fechamento de escolas e classes específicas, conforme demonstrado nos dados do censo escolar do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), de 2006 a 2010, fato ratificado pelo próprio Inep na redação do Enem, em 2017.
Por que a evasão escolar? Os alunos, ao se depararem com o fechamento de escolas e classes específicas, impostos pela política de educação inclusiva vigente, não se adaptaram à nova realidade, onde as aulas não são ministradas na língua de sinais.
O decreto 10.502 contempla nosso anseio por escolas e classes bilíngues de surdos, cuja língua de comunicação, instrução, ensino e interação é a libras (Li, da maioria dos surdos), e o português escrito (L2, dos surdos) é a língua dos materiais instrucionais. Estes são os melhores espaços acadêmicos para o aprendizado real. Promovem a formação da identidade linguística da comunidade surda, conforme emana a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência.
Se a convenção nos garante o direito a uma educação condizente com nossa identidade linguística, por que esses espaços de aquisição linguística e convivência mútua entre os pares sinalizantes da língua de sinais têm sido rondados de segregação?
Os candidatos surdos, ao longo de vários anos de edição do Enem, reivindicaram a tradução das provas do certame em Libras, mas o Inep negou, por anos. Por isso, a Feneis (Federação N acionai de Educação e Integração dos Surdos) entrou com ação judicial em 2014. Fomos vitoriosos. A partir de 2017, as provas do Enem passaram a ser traduzidas em libras para os candidatos surdos.
Os surdos foram bem-sucedidos na realização das videoprovas do Enem em Libras, em 2017? Não! O problema não está na Libras, está no parco conhecimento adquirido pelos surdos, ao longo de uma educação escolar oferecida sob a imposição da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que desrespeitou nossos direitos linguísticos e prejudicou a aprendizagem e desenvolvimento escolar dos surdos. É hora de mudar e fazer valer nossos direitos linguísticos e educacionais.
O decreto 10.502 contempla nosso anseio por escolas e classes bilíngues de surdos. (...) Estes são os melhores espaços acadêmicos para o aprendizado real. Promovem a formação da identidade linguística da comunidade surda, conforme emana a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência